Text
Pinceladas Introdutórias Sobre a Figura da Artista Projetada em Tela
Me é curioso o paradoxo que parece surgir do fato de que, mesmo sendo uma mídia pautada pelo visual, a representação cinematográfica do objeto artístico e de seu ato de criação, na maioria dos casos, beira o alegórico. Não por falta de tentativa, não há real escassez de filmes com personagens que aventuram-se pelas artes plásticas - ao menos não em se tratando de personagens masculinos - mas o cinema num geral parece não saber lidar com o objeto artístico como algo natural, fazendo do mesmo algo aquém da realidade, algo destoante, e tratando a prática de criação deste como desinteressante ao retrato na tela.
Não que o objeto artístico seja mero adereço cenográfico, muitas vezes ele é a coisa que dá movimento a toda trama do filme. A evidência de um crime, a pista de alguma charada, o retrato misterioso de alguém morto ou desaparecido, de alguém pelo qual o protagonista está à procura, a interrogação que paira sobre a trama e que nem por isso deixa de ser algo deslocado no contexto do filme.
Essa distância também recai sobre os realizadores de tais obras. Loucos, problemáticos ou excêntricos, a prática artística denota que o personagem tem outras ambições, que ele é diferente, incomum, inconformado. Não à toa Van Gogh lidera o número de reencarnações cinematográficas, esse personagem em estado de crise é uma reivindicação quase automática da narrativa por conflito, um retrato típico do gênio incompreendido que certamente colabora a noção do mito do artista ainda na contemporaneidade.
No caso das mulheres nesse cinema, como parece ocorrer com qualquer retrato feminino não conformista, destinam-se à reclusão, solidão, frustração e um eterno estado de suspensão. Tal qual exemplificação nas personificações de Amy March em Adoráveis Mulheres (2019/1994/1949), ou Juliette Binoche em Palavras e Imagens (2013) e Os Amantes de Pont-Neuf (1991).
Como sugere Roberta White, em sua análise das narrativas literárias que exploram a figura da pintora, “essas imagens consistem em variações sobre um tema que pode ser chamado de liminal, suspenso e inacabado” (WHITE, p. 19), apresentando a artista sempre em um estado de transição ou dubiedade e sua obra sempre como incompleta ou fragmentada. White também indica que de maneira semelhante, autores de personagens masculinos apresentam arte como algo arriscado e incompatível com uma vivência familiar tradicional, e seus personagens costumam ser a síntese da figura romântica do artista apaixonado e rebelde vivendo radicalmente isolado nos limites ou margens da civilização. A grande diferença, ela argumenta:
[...] é que o artista masculino fictício comete um afastamento mais violento da sociedade da qual ele, por direito de nascença, faz parte. O isolamento da artista feminina é distinto na medida em que, na maioria das vezes, ela não o escolhe, tendo sido excluída dos centros de poder e autoridade em função de seu gênero. (WHITE, p. 27)
Isso quando as personagens são explicitamente artistas, pois na maior parte dos casos a denominação é aferida de maneira quase arbitrária, não havendo nada em tela que prove tal atividade senão por uns desenhos pendurados na parede ou coisa do tipo. Quase sempre essas supostas pintoras, escultoras, designers e afins são personagens secundárias, e mesmo que elas sejam a protagonista do filme não significa que a temática “arte” esteja a frente da narrativa, é muito mais provável que algo como a “necessidade de um romance” seja o carro chefe da trama.
Filmes sobre artistas tendem a despender mais tempo nos contextos que rodeiam a vida da figura do que no ato de produção artística em si, mas isso não justifica representações em que o fato é tão ínfimo a vida da personagem, tal qual em Deixe a Luz do Sol Entrar (2017), ou tão ridicularizante, como ao que se rebaixa Midge Wood em Vertigo (1958), isso antes dela desaparecer do filme sem explicação. Nem mesmo o excepcional longa-metragem de Céline Sciamma, Retrato de uma Jovem em Chamas (2019), escapa totalmente dessa premissa romântica, apesar desta ser uma obra fora da caixa em diversos aspectos, principalmente o retrato que faz do ofício, das alusões a história da arte, da utilização da pintura como parte da força narrativa e da criação de uma personagem ficcional no lugar da figura da pintora, coisa que como a própria Sciamma sabe não foi feito com tanta frequência, como ela mesma disse: “inventar uma pintora, isso raramente foi feito, e agora eu sei por quê, porque é muito difícil!”
A utilização de figuras históricas, como na cinebiografia, que comporta a maior parte das obras que tratam do tema, logo de saída cria uma falsa aproximação entre a realidade da artista no mundo real e o que o filme apresenta como sendo essa realidade, pelo fato de que as figuras apresentadas nestes filmes, além de geralmente serem artistas de séculos passados em que o ambiente de produção era bastante distinto do atual, são por si só personagens extraordinárias. Personagens completamente ficcionais se distinguem pelo fato de que, como sugere White:
[...] são uma projeção do autor da ideia de arte e da reivindicação das mulheres por um lugar no mundo da arte. Ao contrário de um pintor de carne e osso, o artista ficcional existe no reino da ideia e imaginação, é tanto produto quanto criador de arte. Quando a artista de ficção é uma mulher, ela inevitavelmente incorpora a postura política do autor. (WHITE, p.14)
Nas representações cinematográficas, um ato que fica bastante claro nessa postura politizada é quando a personagem encontra ou reivindica um espaço para exercer a prática artística. Demarcando um espaço que parte de uma necessidade operacional na realidade e que na narrativa assume a função de cenário onde dilemas criativos, psicológicos ou sociais da personagem serão confrontados.
No cinema, talvez por sua generalizada preocupação com espaço, esse estúdio ou ateliê abarrotado com as vivências da artista parece até mais relevante que a própria peça de arte que nele se produz. Mesmo personagens bastante secundárias, como Maude Lebowski em O Grande Lebowski (1988) ou Adele Lack em Sinédoque, Nova York (2008), tem seus estúdios evidenciados. Mais drasticamente, em The Artist’s Wife (2019), a retomada da protagonista Claire a pintura, exige que ela não somente arranje um espaço, como um longe e velado de seu marido, também pintor. Virginia Woolf estava mais do que certa quando escreveu que “uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu, se ela quiser escrever ficção”. Havemos de aplicar isso a qualquer circunstância quando discutindo-se arte.
Na representação da pintora Úrsula na animação O Serviço de Entregas da Kiki (1989), por exemplo, fica bem claro a enorme relevância que esse espaço tem na manutenção artística e emocional não só da personagem como de outros, algo que reverbera conhecimento de causa da equipe de realizadores do filme, que a bem dizer é formada basicamente por artistas plásticos, não à toa essa é uma das poucas obras em que a prática artística é apresentada de maneira apaixonada, libertadora e empoderadora mesmo que o filme não seja sobre arte e Úrsula seja apenas uma personagem secundária.
São muitos os elementos que contribuem para a escassez de imagens que forneçam um contraponto às relações de poder e estereótipos, mas não se deve descartar que a sequela do trato que as mulheres receberam ao longo da história ainda é um dos grandes agentes nessa operação. Como nos informa Silvia Federici, em seu estudo da relação da caça às bruxas e o advento do capitalismo, por efeito dessa caça e controle sobre o corpo feminino, "a definição das mulheres como seres demoníacos e as práticas atrozes e humilhantes a que muitas delas foram submetidas deixou marcas indeléveis em sua psique coletiva e em seu senso de possibilidades” (FEDERICI, p. 187).
No que diz respeito a história da arte, desde suas primeiras escrituras, seus agentes põem as mulheres à margem do fazer artístico, exigindo que rompam uma barreira muito além de sua criatividade se quisessem ativamente fazer parte dessa narrativa. Por mais que no passado pintar, por exemplo, fosse um “dote” feminino apreciado, principalmente dentro da classe burguesa e aristocrática, pintar profissionalmente era impensável. As diretrizes sociais que governavam a vida das mulheres estavam tão embrenhadas no consciente popular, que o simples elogio de pessoas próximas tenderia a bastar de validade aos “hobbies artísticos”, e estas mulheres acabavam não instigadas a por suas peças à prova em um ambiente profissional.
Se insistisse em pintar, não poderia ingressar na academia ou mais tarde ingressaria numa turma totalmente segregada onde os aprofundamentos dos estudos eram limitados. Dificilmente seria aceita em alguma guilda que lhe desse aval para viver da prática, e era quase certo que sofresse humilhações que se não destruíssem sua integridade pessoal, poderiam destruir sua carreira profissional, estas por sua vez limitadas a florais, pinturas de gênero e, na melhor das ocorrências, retratos, enquanto suas contrapartes masculinas eram comissionados a portentosas pinturas históricas, afrescos e retratos de grupo. E ainda assim, diante de tão desfavoráveis circunstâncias essas mulheres pintavam carreiras tão relevantes na época quanto os pintores homens, o que torna ainda mais pungente a paradoxal realidade que ausenta estas artistas de não figurarem entre os grandes nomes que primeiro nos vem à cabeça quando pensamos em arte, e a essa figura da artista como uma tão incomum e estereotipada no cinema.
É factual que mesmo com a tremenda onda de despontes ocorridos na modernidade, o número de mulheres artistas ao longo da história é avassaladoramente menor que o de homens, pois mesmo que tenham desenvolvido em vida uma corpulenta carreira dentro das artes, ao falecerem, as obras destas mulheres desaparecem, pois não houve registro de suas existências em primeiro lugar. Não receberam críticas, não foram institucionalizadas e não se encontram coletadas por museus e galerias. Como ressalta Linda Nochlin em seu famoso "Por que não houve grandes artistas mulheres?":
[...] a questão da igualdade das mulheres, na arte ou em qualquer outro campo, não recai sobre a relativa benevolência ou a má intenção de certos homens, ou sobre a autoconfiança ou “natureza desprezível” de certas mulheres, mas sim na natureza de nossas estruturas institucionais e na visão de realidade que estas impõem sobre os seres humanos que as integram. (NOCHLIN, p.12)
Tendo isso em vista, e num mundo de tantas maneiras tão mais amplo como o contemporâneo, é necessário fugir destes paradigmas e analisar a produção artística e suas representações na mídia por uma perspectiva palpável e em diálogo mais próximo com a realidade vigente ou como expressa Nochlin:
Encorajar uma abordagem desapaixonada, impessoal, sociológica e institucionalmente orientada, revelaria toda uma subestrutura romântica, elitista, de mérito próprio, monotemática na qual toda a carreira da história da arte está baseada, e apenas recentemente foi questionada por um grupo de jovens dissidentes. (NOCHLIN, p.15)
A produção artística atual, por influência dos movimentos sociais, da crescente busca por identidades individuais, e com o advento de novas tecnologias, em verdade, torna-se quase que mais uma comódite na rotina da sociedade contemporânea e nesse processo borra todas aquelas então fabricadas classificações hegemônicas que costumava ter, e do porquê, para quem e por quem, ela é produzida. Em suma, não vivemos mais num mundo em que, para uma mulher, pintar era raramente mais do que dote apreciado; não há motivo, então, para que esse tipo de representação ainda impere no cinema que, tal qual a história da arte, foi amplamente pautado por visões totalizantes de mundo que ao criarem uma história única e linear, eurocêntrica e falocêntrica, promoveram todo um apagamento de outras memórias e realidades.
Apresentar o trabalho artístico de maneira possível e em diálogo com a realidade da prática, no lugar de quase uma “alegoria da arte” em diálogo mais afeito a temáticas mitológicas, dá vazão, justamente, a estabelecer e expandir as possibilidades desse trabalho artístico no mundo real, culminando na idéia de que a produção de arte e cultura pode ser vista como um modo de vida em condições de igual existência a qualquer outra. O cinema produz e distribui com tremenda precisão imagens e discursos capazes de induzir sensações, movimentos e afetos no espectador. É por isso que é precisamente através de imagens munidas de nuanças, cotidianas e periféricas, que filmes podem construir representações alternativas e mais complexas do mundo e de seus sujeitos. Mas hoje já não basta simplesmente dar visibilidade ao “outro”, uma vez que a mídia contemporânea já circula freneticamente tais imagens, as qualificando como o real, é necessário, portanto, inventar através do cinema sujeitos, culturas, comunidades, afetos e sensibilidades onde elas ainda nem sequer existem. Em suma, inventar novas imagens que rompam com os esquemas mecanizados de perceber e sentir, novos modos de ver a arte e a cultura.
Referências bibliográficas
FEDERICI, Silvia. Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução do coletivo Sycorax. São Paulo: Editora Elefante, 2004.
NOCHLIN, Linda. Por que não houve grandes mulheres artistas? (Ensaio 6). São Paulo: Edições Aurora, 2016.
WHITE, Roberta. A studio of one’s own: fictional women painters and the art of fiction. New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press, 2005.
0 notes
Text
Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição, Parte 3
Anos atrás, submerso nos processos de realizar meu trabalho de conclusão do curso de cinema e audiovisual, escrevi uma série de memorandos a fim de clarear minhas ideias sobre o projeto e manter meus orientadores atualizados sobre o andamento deste. Na ocasião os nomeei ‘Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição’, o que não poderia ser mais correto. Uma vez prolixas minhas escritas nesses momentos de crise, achei válido tirá-las do limbo de textos perdidos na máquina e publicá-las aqui, de forma serializada e seguido de alguns comentários póstumos. Peço perdão pela falta contexto no que diz respeito ao projeto em si, mas uma camada a mais de confusão talvez seja interessante. Divirta-se.
15/08/2021
Time is upon us, e eu espero que eu o sane neste texto.
Este filme que vos pretendo apresentar ao final do semestre como meu trabalho de conclusão de curso é muito claramente reflexo do meu tempo na faculdade e resultado de um período muito específico da minha vida.
Em suma, ele repete em forma mais definida aquilo pincelado cá e lá em todas as produções audiovisuais e narrativas nas quais me envolvi ao longo do curso, dos cenários às temáticas, dos tons às técnicas. É também produto das experiências vividas, ouvidas e apreendidas no decorrer da faculdade, aquilo a que fui apresentado, aquilo pelo que passei a me interessar, aquilo pelo qual outros se interessavam. Mas disso tudo, ele revela-se apenas reflexo, pois surge como efeito de um momento muito específico, no limiar entre a fantasia da juventude e o real da vida adulta, entre o que e a quem agarro-me e aquilo e aqueles que se vão.
Ele surge justamente no início do fim, período que, já não melancólico o suficiente, veio acompanhado de confusões involuntárias, perdas repentinas e mudanças drásticas, sem contar uma pandemia mundial que somente escalonava a desgracença nacional. Esse não era, e não é, o filme que eu queria fazer, é o filme que eu me vi fazendo e, portanto, percebo agora que não poderia haver projeto mais simbólico destes cinco anos de academia, ainda não concluídos. Creio já ter discorrido sobre isso nos agora saudosos textos do projeto, então não irei me estender, apenas abordarei o que se deu no período de um ano após a conclusão daquele.
Há um ano atrás, aliás, mais tempo a essa altura, usei como justificativa de relevância de um projeto que em cerne era relevante apenas para mim, o fato da protagonista ser uma pintora, e de estar assim tentando dar tempo de tela, mesmo que mínimo, as tantas pintoras esquecidas pela história da arte.
Verdade seja dita, esse era apenas o pretexto que encontrei para dar "relevância" ao projeto, em cima de uma decisão que já havia tomado. Desde o início a protagonista seria uma mulher, antes mesmo de ser uma pintora, mas apenas pelo simples fato de que achava mais interessante que assim fosse, não estava em qualquer grau ponderando sobre as questões sociais que essa decisão acarretava.
Me aprofundei na temática, tentando entender, neste meu olhar completamente leigo e externo, as razões por trás da máxima reiterada por Jennifer Higgie e tantas outras: “The museums of the world are filled with paintings of women — by men.” Pensava que ter esse entendimento era relevante para a construção da personagem e a base teórica do projeto, mas não era algo que pretendia em que o filme se aprofundasse. A ele reservava-se - e ainda prevalece - o conflito da artista com sua arte e não da artista com a sociedade, percebo agora, todavia, que é inevitável que grande parte do conflito entre a artista e sua arte, seja resultado direto de seu conflito com a sociedade, e seria extremamente preguiçoso da minha parte não ao menos citar tal fato.
A urgência da questão acometeu-me ainda com mais força assim que decidi que faria uma animação e não mais estava alheio aos acasos fisionômicos que uma atriz traria a tela, eu teria de decidir quais eram esses atributos e me vi conflituoso em replicar o que fizeram os “grandes mestres” e me deixar levar por fetiches pessoais ou conscientemente ponderar sobre o que o físico da personagem representa e não somente quem ela é intelectualmente.
Percebi que eu nunca havia levantado tal questionamento sobre minhas criações e, a bem dizer, nunca havia questionado isso sobre mim mesmo. Talvez por sempre ter vivido em um mundo demasiadamente interno e me ausentar sempre que possível das mazelas do exterior. Ironicamente, um ano e meio aprisionado com meus pais enquanto o mundo pegava fogo, talvez tenha invertido a situação.
Acho que Kerry James Marshall em entrevista ao Museu de Arte Contemporânea de Chicago expressou melhor o que quero dizer:
“You can't quarrel with things that were done 200 years ago, 300 years ago, 400 years ago. Those things are done, and they were done within the context of people who were idealizing themselves. For Rubens to be painting those fleshy, naked women the way he was painting them, that's not problematic. Because that's what he was interested in, that's what the culture was interested in. That's what they were supposed to do.
Now if I'm painting fleshy blond women, and that's my ideal too, then that's a problem. And it's my problem, actually. That if I can't perceive within myself enough value in my image, or the image of black women, or construct a desire to represent that image as an ideal, then that's my problem ultimately. And if I can't figure out a way to raise that image to the same level that it performs at the same frequency, then that is also my problem. But that's my problem to solve. The inability to solve that problem, to me, is a failure of imagination.”
Por esse motivo, e outros que não vem ao caso discorrer agora, minha protagonista, esta eterna desnomeada, é uma mulher, é negra e é uma pintora, essas são as decisões que enquanto criador em diálogo não somente comigo, mas com a sociedade, me vejo tomando. Não que tomar tais decisões me deixe livre das constantes coceiras atrás da nuca, mas eu não estou fazendo um documentário, logo os questionamentos que tal decisão acarreta, estão lá prontos para serem levantados, não necessariamente pelo filme em si, mas por aqueles que o assistirão, eu espero.
Reitero, o fio condutor da narrativa ainda é o conflito interno da artista com sua arte e que a sociedade, mesmo que comente em seu ouvido a todo momento, não é algo que ela enfrentará diretamente no lapso de tempo do filme.
“That she has depicted herself with the tools of her trade – her easel, her palette, her brushes – is significant. Each one of these objects is more than the sum of its parts: they are symbols of this young artist's resistance to the conventions of her time.” (HIGGIE, Jennifer - The Mirror and the Palette, p.21)
Pois permita-me agora relatar você, cara leitora, meu choque ao descobrir A Studio of One's Own: Fictional Women Painters and the Art of Fiction, de Roberta White, livro que pretende investigar o retrato de personagens pintoras na literatura, majoritariamente, ao que tudo indica, do século XIX.
Em suma, muito do que White afirma como tendências da ficcionalização da pintora, eu, ao acaso, acabei fazendo uso na narrativa do filme. Já havia tomado consciência de algumas coincidência ao ler alguns dos materiais originais analisados, como a personagem de Virgina Woolf em To the Lighthouse, Lily Briscoe, que ao começar a se aventurar seriamente como pintora “[...] thinks of herself as venturing down a dark corridor, swimming in high seas, or walking on a narrow plank above water.” (WHITE, p.05)
Talvez sejam convenções tão típicas quanto qualquer outra coisa e eu esteja dando demasiada atenção a eles, mas não posso deixar de me surpreender com as semelhanças entre o filme que pretendo fazer e aquilo exposto pelas análises que White faz das praxes da mídia literária. Entre outras coisas, ela afirma:
“[...] recurrent images present the artist as liminal and her work as unfinished. One must hasten to add that these are not negative terms. The artist’s liminality means that she is in a state of transition or emergence, and the unfinished nature of her work represents this state of becoming.” (WHITE, p.08)
Não somente surgem semelhanças no que diz respeito às narrativas internas e simbólicas do filme, mas também aos seus cenários.
“Still, one might well reject the term liminality out of hand were it not the case that this general term is given local habitation and specificity by the persistence of imagery of seashore and sea throughout the novels discussed here, from Charlotte Bronte to Mary Gordon. In Phelps, Chopin, Woolf, Murdoch, Madden, Johnston, Walsh, and Gordon, the fictional woman painter lives or works at the edge of a sea. The seashore is the place where the painters work, not necessarily what they paint, and as such it can symbolize their social status. The literal seashore, as a line of demarcation between two separate realms, frequently symbolizes the liminality of the life of the woman artist. The seashore also serves as a nexus from which one can examine the connection (or the opposition) of the aesthetic and the political.” (WHITE, p.13)
Enfim, ainda estou a ler A Studio of One's Own e tenho certeza de que irei encontrar mais semelhanças, talvez eu as repita no meu próximo relatório, até lá, eu tenho um roteiro para escrever antes que as aulas comecem.
Eventualmente eu terminei de ler A Studio of One's Own e o utilizei como referência para um artigo, cartas de apresentação e justificativas de projetos, e certamente o utilizarei na bibliografia de minha futura dissertação que não por acaso extrapola todas as questões que, intencionalmente ou não, eu levantaria com esse filme. De lá pra cá expandi minha referencia e recomento as leituras de Linda Nochilin, Laura Mulvey, Bell Hooks e Silvia Federici sobre a temática ou desdobramentos dela. Aqui, encerram-se minha pretensões, não sei ao certo por qual motivo não escrevi mais relatos, mas é provável que estar entrando em parafuso me impedira.
0 notes
Text
Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição, Parte 2
Anos atrás, submerso nos processos de realizar meu trabalho de conclusão do curso de cinema e audiovisual, escrevi uma série de memorandos a fim de clarear minhas ideias sobre o projeto e manter meus orientadores atualizados sobre o andamento deste. Na ocasião os nomeei ‘Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição’, o que não poderia ser mais correto. Uma vez prolixas minhas escritas nesses momentos de crise, achei válido tirá-las do limbo de textos perdidos na máquina e publicá-las aqui, de forma serializada e seguido de alguns comentários póstumos. Peço perdão pela falta contexto no que diz respeito ao projeto em si, mas uma camada a mais de confusão talvez seja interessante. Divirta-se.
15/04/2021
Após mais de uma semana sem enxergar com clareza, pois meus óculos estavam no conserto, finalmente cá estou a redigir esta nota de atualizações das conjecturas que me acometeram dias atrás quando estava a escutar a edição surrealista do “Quinta Maldita”, coletânea de performances áudio-dramáticas de poemas e lirismos organizada pelo nosso conhecido boêmio de plantão, Demétrio Panarotto, cuja página da Wikipédia, a qual acabo de fazer uma rápida visita, está peculiarmente embebida de informações. Pergunto-me se fora Demétrio que as escreverá.
Menos em decorrência dos delírios do programa e mais em decorrência das imagens de Grete Stern e Jorge de Lima exibidas no decorrer do mesmo, me surgiu a simples realização de que meu filme, que como eu mesmo sei, tanto se apoia em um surrealismo narrativo, sem de fato se apoiar em seus preceitos de operação, deveria desapegar-se das convencionalidades dramáticas que lhe atolam a praia e deixar levar pelas incertezas da maré de uma vez por todas.
Para os descontentamento de alguns, alguns aos quais esta era a última reação que gostaria de causar, mais e mais este projeto desmantela-se em abstratismo. Da trama, que já não era bem clara em seu misticismo - nem dentro tampouco fora do quadro - abdicou-se dos expositivismos de diálogo, tornando-a ainda mais turva em seus deslocamentos pelo espaço. Agora, trato de abdicar de vez dos limítrofes do quadro como um todo, afinal, “neste verão as rosas são azuis, a madeira é de vidro. A terra envolta em seu verdor me faz tão pouco afeito quanto um fantasma. Viver e deixar de viver é que são soluções imaginárias. A existência está em outro lugar.”
Para não apoiar-me diretamente a estes insensatos clamores de Breton, trago Miyazaki ao diálogo, ele que tantas vezes - talvez até em “Starting Point”, mas não tenho certeza e não irei verificar - afirma que não se deve permanecer atado a uma âncora de realidade, mas sim aproveitar-se do oceano de possibilidades que a animação propicia, ele que em todo seu fervor por liberdade é deveras conservador em sua execução desta. Talvez, se o projeto não fosse uma animação, como tornei de fazê-lo, a limitações do mundo físico melhor recebessem as lógicas de uma realidade mais clara e concisa, mas, uma vez que os traços são disformes e fugidios a quaisquer que sejam os limites da imaginação, não vejo porque limitar-me às bordas do enquadramento.
Pois muito que bem, são duas as mudanças que primeiramente me arrisco a realizar, demais virão e tem de vir, mas ainda não as solucionei por completo. Como já havia dito no texto anterior, o filme se inicia com um close de uma concha oca a beira d’água, levemente - ou talvez não, pra poupar trabalho - sendo remexida pelas ondas. Esta será uma constante ao longo do filme, não só a concha, como este enquadramento, como este quadro em específico.
Ao final do primeiro ato, quando a protagonista depara-se com algo no mar ao longe e corre ao seu encontro, este enquadramento inicial da concha já daria-se como cenário do último “take” em que ela corre a distância no horizonte, a partir daí daria-se o corte para a próxima sequência, consequentemente próximo ato, que dá-se dentro da casa. Talvez perdendo um pouco do drama que prolongar o monotonismo desta cena carregada de uma tensão invisível, mas criando uma quebra de expectativa que capte ainda mais a atenção do espectador, ao final da cena, pouco antes do momento de corte, a protagonista que corre em segundo plano, muito ao longe, adentra a concha, em primeiro plano. Esta pequena mudança, ao meu ver, não só quebra-se a expectativa e distância o melodrama que tanto assombra esse projeto, como introduz a inexistência de regras de lógica em seu decorrer e mergulha de vez, como já citei, no surrealismo enquanto movimento motor e não somente como estética da trama.
A segunda mudança, dá-se ao final do terceiro ato, quando a protagonista, na praia, livra-se da tela que pintava, arremessando-a ao mar. Essa era uma sequência que me borbulhava a cabeça desde o início do projeto. Na primeira versão a personagem ia ao mar arrependida de ter abdicado de sua arte; na segunda versão ela ia ao mar para de mais longe ter-se livrar da tela, que havia retornado a praia; desta vez é o mar de tinta, que revoltado há de engoli-la em seu erro. Ela arremessa a tela que perde-se entre as ondas; em um grande plano aberto por detrás, onde a silhueta da protagonista é divida entre oceano e areia, o mar revolto erguesse perpendicularmente, como um vampiro levanta-se de seu caixão sedento por sangue, e da tela, que agora redimensiona-se colossal a frente da protagonista, desaba o mar, que agora a engolfa por completo. A cena segue como já era anteriormente, apavorada em meio ao mar revolto a personagem procura por um norte, até que avista na praia a si mesma e novamente é levada a submergir por uma onda enorme; na praia, aos pés da protagonista, a outra protagonista, uma concha, aquela mesma que iniciara o filme, porém agora de outro ângulo ou talvez do mesmo.
Por agora estas são as mudanças narrativas que se darão a sua versão final, a sequência de sonho ou delírio no segundo ato ainda me atormentam, todavia.
Isso de meus óculos estavam no conserto não é por conte de eles enatarem estragados, mas porque as lentes, que eu havia trocado na época não tinham sido fabricadas corretamente. Nesse meio tempo tive que utilizar um par de óculos muito antigos com grau totalmente distinto. Então, pra conseguir ler e escrever sem forçar muito a vista e acabar desenvolvendo uma daquelas dores de cabeça aporrinhantes, colei uma serie de fitas isolantes nas lentes e ao redor da armação, diminuindo e focalizando a entrada de luz, imagine algo como o óculo usado pelo personagem Ciclope, dos X-Men, só que produzido caseiramente por um homem bomba.
07/08/2021
Aparentemente é de quatro em quatro meses que atualizo esses memorandos, espero que as estapas do filme não sigam nesse ritmo. Mas em melhor tom, tenho que dizer, o filme está resolvido. O tenho em minha cabeça total e completo, acho. Ainda estou a ler e assistir, portanto, mudanças ainda são passíveis de acontecer, mas creio que nada drástico. Antes de expor o aqui o filme em sua versão escrita creio ser mais relevante discorrer como a produção deste se dará. Na semana em que escrevo este texto ainda estou fazendo cálculos e testes a fim de mais claramente planejar datas e afins.
Mas como se dará a realização deste você, cara leitora, deve estar se perguntando com dentes cerrados e com a mão na testa enquanto a consciência grita “não vai dar certo esse negócio". Bom, é por isso que testes e cálculos são necessários e é por isso que este filme será realizado como uma animação é realizada, acrescentando-se uma camada de cada vez.
Em 1990, a Warner Bros. resolveu montar seu próprio clubinho de animação na tentativa de emplacar um milhões na conta, seguindo a onda de todos os grandes estúdios norte-americanos queriam roubar uma parcela da bufunfa que a Disney vinha fazendo com a nova onda de sucesso das animações de longa-metragem.
O problema foi que os veteranos animação do estúdio pediram as contas e, como Brad Bird, diretor de O Gigante de Aço e Os Incríveis deixou expressou certa vez, eles contrataram vários nomes avulsos do mercado cinematográfico, mas um animador não é intercambiável como é um operador de boom, assim como uma animação não é gravada com o potencial de ser regravada, improvisada ou editada para parecer outra coisa, uma vez animada não ter volta, a não ser que se anime tudo de novo é claro.
Em suma o que eu quero dizer é que num filme convencional o roteiro pode muito bem nada ter que ver com as gravações, que nada vão ter a ver com a montagem. O mesmo filme tem três ou mais encarnações completamente diferentes uma da outra. Coisas podem ser cortadas ou adicionadas sem grandes empecilhos. O maior inimigo ou amigo de um filme live-action é o orçamento, o maior inimigo e amigo de uma animação é o tempo. Uma vez estabelecido o filme no storyboard, este será transposto para uma animação, uma animação bruta, uma versão composta de cenário e animação e por fim uma finalização com efeito e demais tratamentos de imagem, mas nada se corta e nada se adicionada, as coisas simplesmente são ou não são animadas. O filme é sempre o mesmo, o que muda é quantas camadas de roupa ele está usando por cima de seu corpo.
E aqui não será diferente. Como disse, ainda tenho que estabelecer quantas e quais e quando serão as fases de realização do projeto. Mas o que quero deixar claro é que se afinal do curso eu tiver de entregar meu filme apenas com uma blusinha e roupas de baixo, e não encapotado com um belíssimo sobretudo aveludado, sapatos estonteantes, echarpes e todos os demais acessórios, ainda estarei entregando o meu filme.
Caso ainda não tenha ficado claro, explicarei mais uma vez. Ao invés de imaginar tratamentos de roteiro ou primeiro, segundo, décimo corte de montagem, em que cenas inteiras mudam, ou mesmo como uma estatua de marmore em que os excessos são removidos e os detalhes são lapidados, imagine o processo de confecção de um filme de animação como o realizar de uma pintura, onde camas e camadas de tinta são aplicadas primeiro sobre um desenho estrutural, depois sobre uma base de cores que define a forma, depois sobre pinceladas grosseiras que definem os valores, depois sobre pinceladas delicadas e detalhistas, depois, se for o caso, uma camada de verniz, e por último o quadro é posto em uma moldura e pendurado em algum lugar, pra ser aclamado, odiado ou esquecido por aqueles que o vislumbram. Sim, durante o processo de pintura partes inteiras do quadro podem vir a mudar, mas se a imagem estiver bem clara na cabeça daquele que segura o pincel, ao quadro apenas se acrescenta, uma pincelada de cada vez, uma camada de cada vez.
Baseados em testes não muito aprofundados, confesso, creio ser capaz de gerar ao menos um minuto de animação bruta por semana. Isto posto, essa primeira fase, logo no primeiro retorno às aulas, em que serão finalizados o animatic e definidos o corte final e o desenho de som, é a fase em que mudanças ainda são aceitáveis, depois disso é uma viagem sem retorno a alto mar e verdadeiro teste de quanta animação (talvez mais do que no primeiro teste) sou capaz de gerar por semana e o ritmo de progresso geral do filme poderão ser calculados. Uma vantagem de tudo isso é que vai se poder prever com bastante exatidão o que exatamente será entregue ao final do semestre.
Por fim, se já não deixei claro neste e nos textos anteriores, uma das diretrizes de produção desse projeto é a economia e a simplicidade, em suma, diminuir, o quanto possível e sem prejudicar (e por vezes até beneficiar) a narrativa e estética do filme, sua produção. E creio que o planos estáticos, planos puramente de cenário, repetição de planos, sugestões sonoras do visual que acontece fora do quadro, e a estética geral da imagem da obra, suja, escura, desfoque e deformada, sirvam muito bem a essa economia. Mas repito, que tudo isso estará mais claro concluída essa primeira fase do projeto na volta às aulas.
Enfim, um reporte rápido e sem grandes gesticulações linguísticas apenas para deixar registrado no papel parte do que tem passado pela minha cabeça quando estou tomando banho.
O próximo texto será acerca dos elementos da narrativa que creio ter agora propriamente definidos. Até lá, estarei terminando de ler A Studio of One's Own, da Roberta White e começando a ler o recém lançado The Mirror and the Palette, da Jennifer Higgie, assim como estarei assistindo, como é de praxe, vários filmes de gente cabeçuda.
E não é que esse negocio acabou não dando certo mesmo, mas mais sobre isso no próximo capitulo, por ora tenho apenas que confessar que não lembrava de possuir conhecimentos sobre os bastidores da indústria de animação norte-americana dos anos 1990, e ainda não lembro. Confesso também que não passei do capitulo inicial de The Mirror and the Palette, chato pra caramba.
0 notes
Text
Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição, Parte 1
Anos atrás, submerso nos processos de realizar meu trabalho de conclusão do curso de cinema e audiovisual, escrevi uma série de memorandos a fim de clarear minhas ideias sobre o projeto e manter meus orientadores atualizados sobre o andamento deste. Na ocasião os nomeei ‘Relatos Pretensiosos de um TCC em Destruição’, o que não poderia ser mais correto. Uma vez prolixas minhas escritas nesses momentos de crise, achei válido tirá-las do limbo de textos perdidos na máquina e publicá-las aqui, de forma serializada e seguido de alguns comentários póstumos. Peço perdão pela falta contexto no que diz respeito ao projeto em si, mas uma camada a mais de confusão talvez seja interessante. Divirta-se.
21/01/2021
Deveras é tardio o momento em que me posto a redigir este documento, mas redigido ele teria de ser, qualquer que fosse o momento, e talvez agora, após ter sido posto para fora de um sono já não agradável para regurgitar meus estresses na privada em plena hora do lobo, seja um momento apropriado.
A seguir, irei regurgitar o que vem, veio e virá a minha cabeça a respeito do meu maldito projeto de conclusão de curso, entituliado Bermas, até então. Até então também, pois agora já não penso que utilizarei este título. Gosto de seus sentidos e expressão, porém não me atrai sua sonoridade, nunca me atraiu. Lembro-me sempre de Bergman, que não por acaso, penso ser terrível com os títulos de suas obras, entre eles ‘A Hora do Lobo’. Me atrai mais e talvez melhor se aplique às estéticas do projeto, algo que remeta mais aos títulos de Magritte, como “Time Transfixed”, se é que foi ele quem intitulou a obra, coisa que geralmente crítico que faz. Portanto, no momento, algo mais claro do que Bermas, mas igualmente embrenhado, como “Ecoar no Vazio da Concha” me soa mais interessante, ainda que talvez direto demais e, convenhamos, demasiado pretensioso. De qualquer maneira, o filme irá iniciar com um close de uma concha oca, so that is that…
Enfim, já se vai mais de um semestre desde que eu parei de ativamente reescrever este filme, não parei de alterá-lo todavia. Era certeza que alguns elementos do filme iriam mudar, é o destino de qualquer coisa deixada ao tempo, porém temo em afirmar que o filme de um semestre atrás e o filme que pretendo realizar agora são bastante distintos. Não me entenda mal, as bases referenciais e temáticas são as mesmas, ainda que agora ampliadas; a sequência de eventos é a mesma, porém a montagem difere em algo daquela apresentada pela decupagem de fotografia, mas isso também era esperado; e a estética, ao menos o que se limita a atmosfera e tom, não foram alterados. No mais, tudo foi reconstruído, ou melhor, será, eu espero. As duas mudanças mais drásticas dizem respeito a estética (a mudança mais complicada) e a narrativa (não o enredo, devo deixar claro).
Pois, irei discorrer primeiramente sobre a narrativa: O diálogo, que permeava todo o segundo ato do filme, nunca me agradou. Ele surgira mais como um desabafo das minhas aflições pessoais na época, do que portento de real motivo para estar ali, o que me foi alertado por Ramayana, se bem me lembro, que implicou a possibilidade do filme ser mudo tal qual os experimentos de Maya Deren. Mas naquele momento, o roteiro ainda estava em seu estágio embrionário e mantive o diálogo acreditando que era um melhor mecanismo para captar a atenção do espectador e de informá-lo, a bem dizer, expô-lo a certas informações que pensava relevantes. Tentei transpor o diálogo do ambiente de enredo no qual ele se punha à um ambiente mais integrado a narrativa do recorte fílmico ali representado, aplicando mais uma camada de “confusão” a narrativa do filme como um todo, o que foi por sua vez incentivado por Daniel justamente como uma maneira de deixar o espectador mais intrigado. Contudo, o diálogo ainda precisava ser trabalhado, e um semestre mais tarde, decidi desfazer-me dele. Não completamente, afinal “um diálogo" ainda está lá, a ligação acontece, as metáforas se mantém, apenas as palavras faladas é que se vão.
Primeiramente pelo fato de ele não necessitar estar lá, como Ramayana e tantos filmes que assisti desde de então reforçam (show, don’t tell… if really needs to be shown, that is); depois, pois não sou capaz de redigir nada do calibre de Virginia Woolf, a quem tanto deste projeto se deve, tampouco irei me usufruir diretamente de seus escritos; e por último, mas - do meu ponto de vista - não menos relevante, pois diminui dores de cabeça advindas da produção, afinal “um filme mudo” derruba as barreiras linguísticas de veiculação da obra, minha atriz não irá precisar decorar falas e pode se concentrar completamente em sua fisicalidade, inclusive, ela pode muito bem ser completamente muda, aliás, é realmente necessário uma atriz? O que nos leva a segunda grande mudança do projeto, a estética.
Como mencionei anteriormente em termos de atmosfera e tom nada foi alterado, talvez apenas um mergulho mais profundo no surrealismo, não necessariamente o movimento, que muito embasou a primeira fase do projeto, mas sim da maneira como ele tem sido explorado pelo cinema, que - me parece ser o caso - muito se tensiona em linha tênue com o experimentalismo e o simbolismo. O que - novamente, ao meu ver - é coerente, visto que o surrealismo se sustenta como força motora para criação, mas depois de criado, o que quer que seja, este em contraste com o mundo torna-se automaticamente um experimento, sempre incerto de quais serão seus efeitos no mundo. No que diz respeito ao cinema, cito aqui não somente os trabalhos pioneiros de Maya Deren, mas também os projetos de Peter Tscherkassky; obras mais narrativas como as de Bergman e Resnais; e mesmo os momentos avulsos nos - a bem dizer, inquietantes - filmes de Leos Carax. Citaria também o ‘Limite’ de Peixoto, mas estou a meses protelando assisti-lo por medo de encontrar o que procuro. Do que eu falava mesmo, ah, pois bem, a estética.
Quem melhor me conhece sabe da minha fascinação pela animação. Anos atrás, quando primeiramente me foi informado da necessidade de se produzir um curta metragem ao final do curso, minha primeira intenção foi realizar uma animação. Com o tempo acabei me encantando por outras coisas e outras pessoas, mas animei, em todo caso, uma nano obra que - ainda me surpreendo com tal fato - repercutiu sem vezes mais do que eu pudesse imaginar.
Mesmo depois de Welles ter me convencido de que eu precisava arranjar uma capa e um chapéu e dar uma de Mojica frente às câmeras como TCC, eu ainda queria utilizar de animação aqui e acolá, como mencionei algumas vezes em memorandos antigos, semelhantes a este. E agora, mesmo com um projeto totalmente distinto do que esperava ser meu TCC, mais do que nunca, frente a uma pandemia interminável, a uma carreira profissional sem grandes bases ou prospectos, sem certeza de estrutura humana, financeira ou psicológica para gravação do projeto e, até o presente momento, com tempo nas mãos, mais do que nunca, quero fazer uma animação.
A vontade, além de ser despertada por uma breve redescoberta da animação e do ato de desenhar em si, surgiu em parte quando dei de encontro com uma série de micro animações que Emmanuel Lantam, um designer e animador francês, realizou em parceria com a Washington National Gallery. Pequenos episódios animados de uma jocosa personagem chamada Pipine tendo como fundo pinturas clássicas de paisagem. Relativamente falando, meu projeto tem como referências visuais - em pinturas, fotografias e arquivos pessoais - uma abordagem muito mais direta aos materiais referenciados (como, sei lá, Peter Greenaway faz, por exemplo) do que simplesmente uma fonte de inspiração (a lá Eric Rohmer). Não obstante, eu sei que que em uma gravação convencional nunca teria a minha disposição o controle da imagem ao nível que anseio, e jamais conseguiria replicar as imagens que criei para o storyboard do filme, que a bem dizer, está mais para um moodboard ou um cenário propriamente dito do que um storyboard.
Portanto, sem mais motivações ou desculpas, proponho que o projeto assuma o status de anima��ão de uma vez por todas. a seguir discorramos sobre as particularidades e necessidade desta que, num contexto geral, me parece ressoar mais harmoniosamente com o projeto.
Tal qual a série com Pinipe se constrói sobre uma base já pronta, os próprios quadros nos quais enquadra as vinhetas de animação, proponho esta mescla de mídias, que eu tenho certeza de já ter visto em outro lugar, mas não consigo me recordar. Sim grande parte do cinerários ainda será “pintado a mão”, mas há uma grande possibilidade de espaço não somente para o encaixe dos materiais referências, como pinturas ou fotografias, bem como vídeos em domínio público, e também - creio até, em uma maior escala - fotografias e vídeos de arquivo pessoal.
Os melhores ambientes para usos desses materiais, se dão durante as sequências mais realistas do filme. Na praia, onde os trabalhos de Frederick J. Waugh ou Gustave Courbet, tem relevância, por exemplo; e na residência da protagonista, onde os trabalhos Wilhelm Hammershøi e Edward Hopper são preferíveis. Novamente, arquivos pessoais serão favorecidos, não somente os já arquivados, como possíveis materiais a serem ainda captados, o que, suponho, esteja gerando alguma confusão neste momento, afinal, se irão ocorrer gravações, porque já não gravar o filme inteiro? Veja bem, essas imagens já pré produzidas, seja de arquivo pessoal ou não, podem e irão ser modificadas para construção do produto final, quase um processo Duchamp de “ready-mades”, mas claro, em se tratando apenas de imagens, algo que inclina-se mais as colagens deste dadaísmo.
Melhor ilustrando, pense na animação de uma figura que movimenta-se sobre a fotografia de uma praia deserta, cujo céu é recortado da parte de uma pintura a óleo de Courbet, e o movimento das ondas no mar é um recorte de ‘The Unchanging Sea’, de 1910, ou algo nesses moldes. Portanto, materiais a serem ainda captados, individualmente por este vos escreve, com sua pequena câmera digital ou mesmo celular, num final de semana qualquer se fazem passíveis de serem utilizados. Uma gravação completa do filme não poderia ser realizada desta maneira, primeiramente pela necessidade de uma equipe mínima, também pela necessidade de reter-se a certas datas, a falta de consistência ou mesmo baixa qualidade do trabalho, vide a menor escala. Dito isso, o contraste claramente existente entre uma figura animada a mão, uma fotografia, uma pintura a impressionista e um filme em película do início do século passado, ainda que seja minimizado ao máximo por vias de edição de imagem, existirá e será abraçado como escolha estica, não por necessidade, mas por real desejo. Assim como acabo inclinando-me mais ao surrealismo enquanto estética visual, vide os trabalhos mais experimentais de Man Ray ou a maior parte da obra Dave Mckean.
Além do que, o contraste entre as células de animações cartunescas e os cenários pintados por Eyvind Earle em Bela Adormecida ou Kazuo Oga em Princesa Mononoke, nunca foram um problema, bem pelo contrário. Até mesmo as animações em computação gráfica de hoje em dia ainda contrastam personagens cartunescos, com cenários hiper-realistas que chegam a dar água nos olhos.
De toda forma, parte desse contraste será naturalmente harmonizado pelas edições de imagem referentes a geração de atmosfera, tom e textura. Já mencionei parte destas em outros textos divagantes sobre o projeto onde melhor expresso seus propósitos e motivações, portanto somente citarei o factual dos elementos. Primeiramente, a distorção da imagem e a perda de foco (principalmente nas arestas do quadro) semelhante aos efeitos causados por lentes anamórficas e mais agressivamente por lentes tilt-shift; segundamente, serão utilizadas vinhetas e mudanças irreais de exposição da imagem; terceira e por-ultimamente, interferências sobre a imagem, como grão e ruído ou intervenções diretas como sobreposições de outros elementos sobre a imagem base. Em resumo, não é uma imagem limpa, é uma imagem que carrega impressões de uso e marcas de desgaste, que carrega fantasmas de uma dimensão material a um ambiente onírico.
E em muito essa impressão fantasmagórica estará presente na animação em si, não somente compondo ao escopo estético da obra. A animação será realizada a 12 frames por segundo e transporta para 24 frames por segundo via software (ou assim eu espero) e efeitos colaterais advindos deste processo serão abraçados. Uma vez que não há cor com a qual se trabalhar (lembrando que é um filme preto e branco), a animação poderá se concentrar nas formas e valores de luz e sombra, por conseguinte favorecendo o uso de figuras menos complexas, mais remetentes a silhuetas de forte contraste dos valores de claro e escuro.
Uma das razões para que eu acabasse levando o filme aos caminhos da animação era o fato de não querer enquadrar a personagem as limitações fisionômicas de uma atriz em específico. Tendo a possibilidade de dar o rosto que eu bem entender a personagem, pretendo dar-lhe a face das diversas pintoras que compõem o referencial da personagem, as quais ainda estou estudando e melhor me familiarizando tal qual pretendo familiarizar o espectador. Logo, o rosto da personagem não será um, mas vários, o que consequentemente acaba eliminando a necessidade de uma consistência mais firme no que tangia a fisicalidade de um rosto único representado de distintos ângulos.
Eliminar é a palavra chave aqui, diminuir ao máximo o volume de produção é a intenção. Inclino-me, então, a um maior uso planos still e cenários sem qualquer movimento, a truques de movimento que independem de um trabalho a mão, e substituições de exposições complexas por sugestões simples, seguindo os ditados populares que todo estudante de cinema conhece: “menos é mais” e “você não precisa de um helicóptero para fazer uma cena de perseguição de helicóptero".
Encontrar mecanismos para conter esse amontoado volume de trabalho que é sinônimo de animação será o foco durante os próximos meses. Creio que softwares terão grande papel nessa resolução de problemas, e digo apenas “creio”, pois terei de reaprender a utilizar esses softwares, tanto é o tempo que não vislumbro suas interfaces. Mais informações sobre essa parte do processo em memorandos futuros.
E com esta nota, afirmo que, a curto prazo, o foco será em pesquisa e experimentação. Tenho ainda alguns livros para ler e infinitos filmes para assistir, fora uma série de materiais para pesquisar e empecilhos narrativos e de produção para resolver. Em paralelo a isso pretendo reescrever o roteiro a maneira da montagem final do filme, não as cenas a serem interpretadas, mas sim o que se vê e como se vê, o que se ouve e como se ouve; redesenhar o storyboard, dessa vez mais simples, porém mais completo; e realizar um animatic para poder trabalhar os efeitos narrativos de som e montagem, e ter estabelecido o ritmo e tempo do filme. Isso tudo até o final deste primeiro semestre, para que possa passar o segundo semestre de fato realizando o filme. Até lá mais memorandos como este serão redigidos, é bom ir descansando os olhos.
Este filme acima descrito hoje encontra-se total e completamente submerso em lixo, chorume e demais dejetos, nem sequer próximo da gaveta, onde guardo tantos outros filmes, ele se encontra. Mas outros projetos, todos ainda em andamento e, espero, sem o mesmo destino, surgiram dele, narrativa e esteticamente, o mais interessante nessa releitura de tais ideias foi perceber que ainda tenho interesse, até mais do que antes, em explorar esses conceitos de mixmidia, justando fotos, filmes, pinturas e animação. Nada se cria, tudo se transforma.
3 notes
·
View notes
Text

PARES TORTOS
Eram ciúmes, inveja, talvez um esbarrar muito brusco no espaço pessoal. Seja o que fosse no específico do momento, em ampla leitura claramente era um sentimento de exclusão, o roubo de algo que nunca lhe pertenceu e de longe fosse seu desejo tal posse, ainda assim pairava sobre o travesseiro uma noite que parecia usurpada pela angústia, como nas tantas outras vezes antes que o impediram de dormir. Naquelas, ecos vis e infundados em sua cabeça, nesta, ecos do divertimento que lhe carecia o peito, vindos do cômodo ao lado. Já se disse sobre aqueles de natureza lenta, que dá-se tempo e estes são capazes afundar ao coração do inferno, mas em princípio seu instinto é o de resistir ao sentimento e não assumir que nada bom ou ruim tenha acontecido. De olhos fechados, tentava esquecer que outros existiam.
Ainda que seja inevitável a expectativa, mesmo que mínima, esta é desmontada pela descoberta do equívoco, o prazer de ter a amedrontada primeira impressão irrompida por súbitas alegrias e rasgada por genuínas gargalhadas. Substituindo a dita exclusão por uma voluntária vontade de fazer parte, não daquela relação da qual sentia-se excluído, mas de uma outra, distintamente satisfatória, ainda a ser criada pelo passar do tempo e sintonia com aquilo que se assemelha ou se difere, ele revigora-se em esperança.
É sempre culpa da expectativa essa turbulência que o acomete em primeira instância, aquela mesma expectativa que lhe fazia ansiar por respostas daqueles que nada dizem, que lhe fazia fantasiar aventuras afora que na realidade nunca saem de casa, que lhe punha num frustrante vai e vem da conexão que nunca sintoniza a frequência. Em verdade, fazia tempo, tanto tempo que esqueceu-se das diferenças entre as partes, esqueceu-se até de quem era o interesse de que elas andassem juntas, esqueceu-se de que o interesse não era na verdade pela relação, mas pelo que ela proporcionava, companhia, confessionário, algo que certamente não trocas. Há uma ternura, é inegável, mas de pouco adianta ternura entre dois indivíduos se eles não verdadeiramente possuem interesse pelo outro, sejam por suas semelhanças, por suas diferenças, ou pelo enigma que um apresenta ao outro.
Temia que a proximidade lembrasse daquela tão profundamente sentida exclusão outrora, a mesma que certa vez lhe levou de mão dadas com ciúmes e inveja ao coração do inferno, e que ele sabia, apesar dos suicídios sentimentais, do distanciamento forçado e do tempo passado, estava apenas precariamente curado. De longe fora isso que se passara. Uma nostalgia era clara, mas essa não era pungente o suficiente para gerar qualquer tipo de expectativa. Fora mais do que aliviante perceber que a mente não se perdia em passados ou se atormentava com futuros, mas que se postava firmemente arraigada ao presente, reagindo ao que ocorria sem cálculos ou lembranças. A experiência, que de ruim teve apenas o curto período em que se deu, fez gerar nada além de súbitas alegrias e genuínas gargalhadas.
Nunca deixou de ser verdade, todavia, que o encantamento daquela outrora, que levava-o a perde-se em sua face, tentando enxergar além do que se diz, do que se faz, do que se expressa, tentando decifrar o enigma que ela punha sobre sua existência, aquele encantamento permaneceu intocado, revigorado toda toda vez que seus corpos se tocavam por acidente. Ele só queria que fosse eterno, aquele tão curto esbarrar.
0 notes
Text

SEVEN STORIES HIGH, LOOKING AT THE WORLD GO BY
Oh, olá cara leitora. Como anda essa sua vida? - Claramente desocupada, dado sua presença neste local de desalento - Faz tempo, eu sei, mas não se preocupe, se é que uma vez foi causa de preocupação, ainda não deixei este lugar por completo, nem nenhum lugar, diga-se de passagem, na verdade permaneço no mesmo exato lugar, apodrecendo em seu chão se a essas alturas já não virei mera mancha em suas paredes ou assombração de seus cantos escuros.
Se insiste em continuar a leitura, pois bem, vejamos se ainda possuo capacidades cognitivas suficientes para colocar uma palavra após a outra. Da última vez que tentei soava como um aluno de ensino médio não muito aplicado, então esteja avisada de antemão, expectativa tende a ser a morte da alegria. Em minha defesa, não é que durante o período em que estive ausente deste espaço, tive-o ocupado por outras atividades literárias, linguísticas ou gramaticais que mantivessem afiado o meu tecer textual, se é que algum dia foi. Já não me recordo de muito depois de, bem, anos, sucumbindo a velhice que me é inata nesse asilo do meu próprio fazer.
Lembro que costumava redigir num costurar de citações, tentando conectar pontos de vista alheios, aos meus, como fazem todos os ensaístas prolixamente enrolados, em minha atual conjuntura, porém, sou incapaz de recitar uma frase sequer. Sei que li livros, só não lembro quais ou o que continham. Sei que assisti filmes, mas costumeiramente me faço estranho a cartaz e sinopse dos mesmos. Sei que agora posso até ser abertamente alcunhado bacharel em imagens que mexem, mas a cada dia parece mais que foram cinco anos de um delírio, não sei se individual ou coletivo, uma leve capotagem na curva das vivências. Ao menos valeu a adrenalina da velocidade com a qual o veículo era conduzido.
Que fique claro, antes da memória se esvair pelo para-brisa, houveram tentativas de escrever alguma, minimamente consistente, iteração deste texto. Quase todas não passavam, porém, de melancólicos e desesperançosos resmungos sobre o que me afligia nestes, sempre estranhos, dias de letargia induzida e voluntária.
Tentava divagar sobre as minhas tantas incapacidades, sobre o que tem me irritado e o que tem me deixado estéril, sobre aquelas inquietudes sentimentais que irrompem sem aviso, sobre o violento vazio que ecoa as fragilidades neste vago museu de questionamentos no qual me afundo a procura de algum objeto empoeirado, que a essa altura já é mais deterioração do que artefato. Mas releguei a fazer isso, temo até que tenha perdido capacidades de assim fazer, vide a poeira acumulada sobre inatividade de meu "diário pessoal", há muito dado como falecido, por um fio de ser dado como deletado.
Talvez não haja nada sobre o que se escrever, mas tantas vezes já disse isso e aqui estou novamente. É verdade que não tem acontecido muita coisa nos oito metros quadrados nos quais permito-me trancafiar. Não acho, todavia, que seja consequência de se estar neste lugar, como estão tantos outros em espaços semelhantes. Como disse, sempre estive aqui, e já cheguei até a escrever consideravelmente sobre. São e salvo, chuchado em minha pilha de coisas e pensamentos, apenas eu comigo mesmo e o pó que acumula sobre.
Cresci dentro de casa, não fora dela, e acabei me acostumando as suas rotinas, isolado em frente de telas de TV, mais tarde telas de computador e agora todas as telas em minha posse ou não, sempre curioso pelo tão amplo mundo que dizia respeito ao quadradinho iluminado à minha frente. Não posso evitar, eu era uma criança muito afeita a sorver conhecimentos e me entreter por meio da observação para qual tais objeto foram idealizados, e em verdade era uma criança drasticamente tímida, daquelas que acham um canto para ficar quietas sem chamar atenção dos indecifráveis adultos; que se negam a tomar parte em algum jogo ou esporte nas aulas de educação física ou recreio, mais pelo medo do jogo humano do que pelo desdém a atividade física; que apesar das matrizes de personalidade afirmarem o oposto, senta no fundo da sala próximo aos supostos delinquentes e jamais levanta a mão em aula se não para responder a chamada, pois assim não é necessário vociferar seu nome.
Eventualmente aprendi, como fiz assistindo a documentários de vida selvagem, que como outros animais, as pessoas geralmente têm mais medo de você do que você delas. O truque é se manter calmo, imovel, fingindo de morto, insensível a tudo. Eventualmente um adulto insociável veio a soterrar minha timidez infantil sob as pedras que substituem seu coração, no entanto uma irracional angústia ainda me acomete toda vez que compartilho ar com outras pessoas. Simplesmente não consigo baixar a guarda, fico tão ciente de tudo e tão ansioso pensando sobre que simplesmente não consigo me deixar engajar.
Não que eu esteja ausente das situações sociais pelas quais me ponho a navegar, mas dou a impressão de estar disperso para que as pessoas não pensem que estou enlouquecendo por examinar as paredes tão atentamente, o que por conseguinte faço para não acharem que sou um psicopata por querer fitar seus rostos com a mesma intensidade. Responderei somente na segunda, mas ouvi meu nome pela primeira vez que chamaram, apesar de parecer estar em outro lugar, onde de certa forma realmente estou, trancado em minha mente, onde permanecerei dias após toda a interação social ter acontecido, fazendo infinitas suposições que sei serem todas falsas e que, a bem dizer, não tem propósito algum para serem formadas
Naturalmente, um espectador, por força do hábito, um ouvinte. Quando se dá ao diálogo, geralmente é apenas para quebrar o silêncio com um desconhecido antes que este tenha tempo de notar que você é um estranho que nada fala. Conduzindo uma quase-entrevista, você não se atreve a fazer comentários genéricos sobre o clima ou última crise e vigência, isso seria estupido, você faz uma série de perguntas, tentando soar simpático, interessado no indivíduo ao seu lado. A cada pergunta respodnida com uma intimidade, mais decontraidos e confientas eles ficam, e manos apreensivo você fica no gradual entendimento pragmantico de com quem esta lidado. Dá-se tempo e os problemas dessa manobra quase-sociopata começam a despontar. Na rápida confiança, talvez eles venham a desenvolver um equivocado apego, acreditando que você os entende, que você os escuta. Não percebendo que na verdade eles não te conhecem, que diferentemente deles você não abriu mão de nada, não percebendo que você nunca deixou de ser um estranho.
Eventualmente, na medida do possível, creio ter aprendido a ser social, mas ainda não entendo ser social. Há um isolamento voluntário muito antes de um mandatário, um distanciamento arquitetado por essa criaturinha assustada que se esconde dos dramas porta a fora, e esconde as angústias porta a dentro, isento de movimentações muito bruscas em ambos ambientes, que é pra não causar alarme. Mas não há real escape do mundo, a rua invade o interno, mesmo depois do expediente, não adianta fechar a porta, não importa quantas vezes Lou Reed tenha escrito o contrário ou quantas vezes Maureen Tucker tenha cantado sobre.
Todos os dias alguém passa o aspirador de pó no apartamento de cima, aspirando os pelos do gato que vez que outra se ouve brincando com uma sineta. Toda manhã, ao acordar, escuto a família ao lado falando entusiasmadamente durante o que suponho ser seu café da manhã, antes de saírem espancando a porta de entrada, costume comum de todos os moradores em nosso corredor. Do terceiro andar alguém liga o ar-condicionado ruidoso, faça calor ou frio. Da garagem alguém acelera a porcaria de um carrinho três cilindros mequetrefe achando que é um V8 ou coisa parecida. Eu não vejo essas pessoas, apenas as escuto, reverberações na edificação, fantasmas nas estruturas do prédio.
Do outro lado da rua, berros de menino que urra para o que aparenta ser o vento, às vezes para carros que passam na rua, às vezes para vacas no pasto ao lado, enquanto sua avó o observa da porta da casa. No entardecer, potentes assobios do vizinho na casa da frente chamando seu cachorro, perdido entre as vacas, de volta a casa. Em noites silenciosas, o remexer do mato alto no breu onde as vacas pastam é a única coisa que se escuta, como almas penadas arrastando-se na escuridão. Em dias barulhentos, é a intensa peregrinagem de veículos na rua entre minha janela e o pasto, como se uma avenida tivesse sido aberta em meio ao subúrbio-quase-rural, com direito a tomar-se por rota de viaturas de polícia, pronto socorro e corpo de bombeiros, cada qual com suas sinetas e luzinhas próprias.
Não costumava ser assim, houve um tempo em que a rua era de terra e as carroças passando em dias de chuva remetiam a um tempo ermo de barro, guerra e doença onde bovinos reinavam, mas isso era há três, quatro meses. Hoje formam-se congestionamentos em todas as interseções entre bairros, assim como na curva da rua bem em frente a janela do meu quarto, nesse caso geralmente em função de dois veículos de grande porte, ônibus ou caminhões, tentando passar um pelo outro.
Antes do asfalto a rua era mais larga e isso não ocorria, em compensação eu vivia como uma múmia, soterrado sob areia e pó e os caminhões carregados que passavam saltitando pelos buracos e deformidades no chão faziam o prédio inteiro vibrar como se a violação de algum sarcofago tivesse acionado o desmoronamento da pirâmide. Em certos dias da semana, os caminhões passavam em caravanas de alguma pedreira. Não sei ao certo de onde vinham ou para onde iam, mas suponho que tivessem algo a ver com a eterna construção de um contorno viário a algumas colinas de distância. Tarde da noite, só se via suas luzinhas indo de um lado ao outro do horizonte, parecendo ovnis perambulando na noite em busca de material abiduzivel. Da primeira vez demorei a entender do que se tratavam aquelas iluminuras misteriosas, mas deveria ter imaginado que eram os mesmos homenzinhos que sem qualquer aviso explodem as montanhas da redondeza, ocasionalmente mais de uma vez ao dia, gerando ondas de choque que, tal qual seus caminhões, tremulam as janelas do prédio. Desavisados, costumam se assustar, algumas explosões chegam a ser mais altas que trovoadas, mas depois de um tempo se tornam tão triviais quantos os carros freando agressivamente no quebra-molas que antecede a curva frente a janela, aparentemente disfarçado com alguma tecnologia alienígena que o torna invisível.
O fenômeno mais assustadoramente ensurdecedor a tomar nossas almas de assalto, todavia, ocorrera recentemente. Eram vinte e uma horas da noite de uma sexta-feira, ao que tudo indicava até então, medíocre. Eu estava assistindo a alguma besteira, absorvido em meu próprio mundo de telas, no conforto de minha poltrona e isolamento de meus fones de ouvido, quando um barulho bizarramente alto irrompe a calmaria. Eu não sabia se o prédio estava vindo abaixo, se alguma monstruosidade havia emergindo na superfície, se acidentalmente havia sumonado os portões do inferno ou se finalmente tinha-se dado início ao arrebatamento extraterrestre, só sei que o susto me fez pular da cadeira tão alto quanto havia feito vinte anos antes, assistindo um basilisco emergir em uma sessão de em Harry Potter e a Câmara Secreta.
Corri até a janela, ignorando o perigo que poderia talvez, quem sabe, seria ótimo, estar correndo. Para minha decepção, tratava-se apenas de mais um caminhão, atravancando o trânsito enquanto tombava dois morros de pedras do tamanho de cabeças no meio fio, logo em frente a minha janela, às nove da noite, de uma sexta-feira.
Eu não sei o que esses maquinários de construção sanguinários, dignos do Maine de Stephen King, tem com a frente de minha janela. Numa outra noite, era final de semana, uma escavadeira apareceu para tentar quebrar a pequena calçada de concreto que tinha sido feita uns dias antes por um pessoal que estava reformando portão e muros da casa em frente a dita calçada. A todo o vapor, ela agrediu o chão indignada por cerca de trinta minutos, até que, sem sucesso na peculiar empreitada, foi embora tão repentinamente quanto havia surgido. Não deu nem tempo da polícia, para qual havíamos dado queixa, aparecer, mas nessa época eles ainda não eram assíduos frequentadores da via.
Essas não foram as primeiras investidas na campanha de destruição da rua, cujos muros há muito são os alvos prediletos, quebrados, caídos, carcomidos por veículos desconhecidos. A ocorrência mais recente da qual tenho conhecimento se deu mais ao sul da rua, onde um retardado se perdeu na curva, subiu uma larga calçada e foi-se muro a dentro no quintal de uma quase-mansão, quase atropelado uma transeunte, ninguem menos que minha mãe, no processo. E nem era na curva aqui em frente, famosa em seu período pré-asfalto por simular um circuito de rally, derrapando carros para cima dos canteiros, forçando cavalos de pau involuntários ou os arremessando contra uma das bermas dos terrenos elevados de ambos os lados da rua.
Certa noite, já era madrugada na verdade, eu estava lavando louça com toda a tranquilidade do mundo - sim, de madrugada - quando escuto o típico "skiiiiiid, boom" na curva. Geralmente esse é seguido de um rápido "vrum skiiid vrum vruuum..." de algum motorista saindo em velocidade de fuga do local antes que alguém possa perguntar se o pedaço de parachoque que ficou para traz lhe pertence, mas não dessa vez, dessa vez, após a batida houve silêncio. Preocupado com algo ter sido realmente destruído ou estar prestes a explodir, interrompi a louça e fui olhar pela janela. Tudo parecia estático, até começarem a despontar algumas cabeças apreensivas por cima do muro. Quatro ou cinco homens andavam de lá para cá, possivelmente analisando o estrago, apesar de que nada grave parecia ter ocorrido. Foi então que uma outra coisa despontou acima do muro, vagarosamente uma roda surgiu no horizonte, seguida por outra parte da dianteira do carro, sendo revirado de sua capotagem a posição original. Os homens então empurraram o coitado, sem para brisa e com o capô completamente afundado até um canteiro fora da curva. Sua carona que chegou logo em seguida, eu continuei a lavar a louça, pela manhã o carro já havia sumido, abdução na certa.
Me pergunto se aquelas curiosas placas de contagem regressiva antes de uma curva acentuada, que apenas geram vontade por maior aceleração, fariam diferença aqui. Como as placas que certa época foram postas ao norte da rua, distantes uns quinze metros umas das outras, tragicomicamente alertando transeuntes sobre homens em motos e assaltos a frente. Mas talvez isso não seja o suficiente, talvez haja uma maldição antiga arraigada a curva, como naquelas tantas que acabam recebendo o sufixo “da morte” após seu título, “curva”, ou talvez seja o universo querendo causar transtorno em frente a minha janela, visitada quase toda noite por motoboys perdidos que questionam "onde fica a entrada do prédio?", até que alguém, já acostumando com o episódio, retribua com “não é esse condomínio" e aponte para o gigantesco complexo de prédios uma centena de metros à frente. Alguns insistem e informam que é uma entrega para o "setecentos e um, bloco cinco” ou coisa do gênero, sem ter percebido que o condomínio aparentemente sem entrada com o qual estão tão confusos, só possui três blocos e quatro andares.
Entenda, estes tópicos sobre os quais resmungo com tanta frequência me são apenas alimento de regozijo, não há profundas intimidades com as palavras as quais aqui rubrico, apesar do velho ranzinza que me cabe afirmar o oposto, são apenas notas e observações, embebidas em volteios de deboche, acerca da pequenina bolha suburbana que me circunda, uma vez mais ao menos, que é pra não perder a prática.
Dois anos atrás, discorrendo sobre temas semelhantes, escrevi sobre meus amigos irem embora de tal bolha, e eles foram, realmente foram, seguiram com suas vidas e furaram a bolha, mudaram-se para outra ou saíram flutuando em suas próprias. Eu continuei aqui, escondido, chuchado no meu cantinho observando os efeitos ópticos da abóbada ao redor. Sempre un voyeur d'flâneur, du fugace, de l'éphémère, ou algo que soe semelhante. Aquele que observa o mundo, da janela ou do ecrã, sem tomar parte em sua rotação. Nesse ritmo, ei de um dia tornar-me nada mais do que uma mancha no enquadramento, mera impressão estática do estranho que um dia foi. É necessário que eu ponha o pé nesta rua de crônicas e saia resbalando na curva, queimando borracha no quebra-molas, despejando minhas pedras noutro lugar.
Até algum dia.
0 notes
Photo

UMA LÁSTIMA
Renan Rigon, que é meu colega, meu produtor, meu agente, o anfitrião das noites de karaokê, que vez que outra me agracia com pratos deliciosos, que por algum motivo desconhecido sempre lembra do meu aniversário, que sempre me acompanha quando sumo de uma confraternização mais cedo que todo mundo, aquele que me hospeda quando já ta tarde demais pra ir embora e nunca me deixa dormir sozinho, meu conselheiro, meu confidente, meu parceiro de crime, meu amigo Renão redigiu o texto a seguir em um anseio por expurgar parte da pressão do TCC que acomete todos nós jovens cineastas. Como se ele não fosse capaz de ser, também, um diretor.
É difícil se ver em posto de direção, não?
Talvez pode não ser de meu costume, mas me parece que estou apenas pegando a ideia de um fulano aqui, a estética de beltrano acolá, uma pitada de criatividade e voilá: temos um filme. É uma grande colagem que de perto parece estar toda errada, mas se você se esforçar um pouco, de longe, talvez veja uma mensagem por trás. É quase como ver nuvens do céu. Eu posso ver um pato, um dragão, um anjo. E no fim, é um monte de partícula de água junta que forma tudo isso num mesmo espaço.
Bom, certamente não sou o primeiro a ter essas questões e nem me pretendo. Milhares já conversaram com Platão, Aristóteles, Foucault e… eles chegaram em alguma conclusão? Seria eu capaz de resolver essa? Pois nem me atrevo, deixo essa pro Zanini.
Meu papo aqui é outro. Falo de tudo isso pois estar nesse posto tem gerado muitas dúvidas, e, diga-se de passagem, pouquíssimas certezas. Tenho duvidado de tudo. Da minha capacidade, do curso, das minhas escolhas, até daquilo que eu já tinha certeza. É como fazer uma ceia de Natal sem conseguir sentir sabor nenhum. É estar com apetite, mas não saber o que cozinhar.
Me vejo nessa situação onde preparo uma janta para pelo menos umas 15 pessoas, faltando algumas horas, mas eu só tenho uma faca, um pão e um ovo prontos. Como que eu vou fazer comida para tanta gente se eu não consigo nem mesmo preparar para mim mesmo? A cozinha vira uma sala de cirurgia. Pega um porco, algumas cebolas, alho, salsinha, temperos a gosto e tenta costurar para que de alguma forma seja palatável.
É fazer do porco um Frankenstein.
E tem que fazer sentido tudo isso? Mais vale pratos gostosos que não conversam entre si ou uma ceia coerente, mas faltando um pouco de sabor?
Por vezes entra uma pessoa ou outra na cozinha e fala “nossa que cheiro bom!”. Você até se anima, até que ela prova e fala: “falta sal”. É o básico. É o simples. Você já fez várias vezes. Mas agora, há de faltar sal.
Você tenta corrigir, mas fica na ansiedade de que a pessoa chegue novamente e você possa perguntar: “agora tá bom?”. Por vezes, ela vem, por outras, não. E aí? Será que eu tenho paladar suficiente para decidir sozinho?
“Você precisa se apressar! Tem umas quinze pessoas que estão lá nas mesas esperando. Não vai sair?”
Algumas delas torcem por você, outras nem mesmo prestam atenção o suficiente. Tem gente que tá confiando numa boa refeição, outras que nem sabem onde estão. E eu tô lá, sozinho fazendo o maldito porco. Quem sabe vou preparando alguns acompanhamentos? Assim eles vão se acalmando, comendo aos pouquinhos.
Alguns se saciam e vão embora. Outros ficam mais fervorosos para comer.
Vish, olha o noticiário! TODO MUNDO PRA CASA JÁ!
O salão se esvazia. E lá fico eu, pensando: e o meu porco? E os acompanhamentos que eu fiz?
O telefone toca:
- A gente ainda quer comer! Esse é o seu desafio!
- Bom, tá bem, eu posso levar um pedaço de porco para cada um. Levo até um presentinho, não quero fazer desfeita. É cortesia da casa. Daqui 30 minutos eu tô chegando aí.
- 30? Eu quero em 15! - E desliga o telefone.
E o que eu faço agora?
Eu deveria ter começado essa ceia no dia anterior, eu sabia. Eu sabia. Mas eu tava ajudando o ciclano a fazer a ceia dele também. Será que a dele vai ficar tão boa quanto a minha? Ou não se pode comparar a comida do Japão com o do Brasil? Melhor esquecer isso e fazer mais comida. Tô vendo que esse porco vai ser pouco pra tanta gente.
Pega mais peru, mais bife, mais linguiça, mais arroz...ah, quer saber? Pega tudo! O que ficar pronto, eu vou levando na casa de cada um.
Espero que no fim dessa noite eu consiga dar conta de tudo isso. A cozinha já tá uma bagunça, tem panela suja para tudo quanto é lado. Eu vou separar o prato de cada um e levo. É isso! Eu vou conseguir!
Mas a pergunta que fica é: será que tá bom de sal?
2 notes
·
View notes
Photo

ALGUÉM TEM CERTEZA DO TÍTULO?
Este é o cartaz de "Amanhã Estaremos em Casa", antes "Ventrículo Direito", um dos dois TCCs em que trabalhei em 2019, experiências sobre as quais já discorri anteriormente aqui no troço. O filme anteriormente se chamava “Ventrículo Direito” em função de uma frase, quase monóloga, que é repetidas durante o mesmo: "Jogo Xadrez, leio e discuto Tolstói, a Europa é um continente com 50 países, o sangue do sapo entra pelos átrios cardíacos e do ser humano pelo ventrículo direito" ou algo do gênero, já não me recordo com precisão.
É sobre essa frase que é o cartaz, como o sapo, o atlas da Europa, os dois livros de Tolstói e as referências a xadrez deixam bem evidente. O filme não é sobre isso, todavia. O filme é sobre uma família disfuncional, ou uma família com pais de cabeças apáticas que lidam com suas singularidades no conjunto familiar, ao menos é isso que diz a sinopse. E sim eu assisti o filme, mas confesso não saber dizer precisão do que se trata. Aliás, porque precisaria ser sobre alguma coisa pra começo de conversa?
Sendo ou não sobre uma família disfuncional, fato é que ela lá está, assim como está igualmente representada no cartaz pelas peças de xadrez, incluindo as gigantescas e surreais ao fundo. Mas se você tiver assistido ao filme isso será mais do que claro. As peças eu digo, não o filme. O filme já era ambíguo desde o princípio, foi o que me atraiu a ele na verdade, e foi o que me fez optar por um cartaz surrealista para o mesmo. A distopia tipicamente presente no surrealismo fazia todo o sentido com a narrativa igualmente distópica do filme.
Apesar do alto nível de contraste tonal que tem mais semelhança a um Dali, o que eu chamo de distopia aqui tem mais a ver com um Magritte, pois não diz respeito a uma distorção onírica da realidade, mas sim a justaposição de elementos, justamente, distópicos. O que é deveras interessante pra mim nessa abordagem do surrealismo é que, creio, justamente por ser uma deturpação do real, a discrepância entre elementos em cena cria justamente uma unicidade da imagem, tornando-a, em vista desse paradoxo, idealística. Algo, portanto, utópico. Ou não, sei lá.
Certa vez me perguntaram o que era a minha utopia. Eu disse que não sabia, que era algo difícil de responder, porque de fato eu não sei e de fato é algo difícil de se responder, ao menos saber e responder com certeza. Mas sinceramente, porque eu queria ter certeza, era a pergunta que eu de fato não conseguiria responder, porque não faz qualquer sentido eu querer ter certeza de qualquer que seja a coisa.
Always seeking “a great perhaps” como diria Francois Rabelais, ou seria John Green? Enfim, não é essa a pergunta que pretendia responder aqui, mas sim “qual minha utopia?”, e as respostas são inúmeras. Eu poderia dizer que seria morar numa casa na beira de uma desfiladeiro em frente ao mar, que seria viajar o mundo sem me preocupar com nada além da próxima parada, ou que seria encontrar - ou ter certeza, caso eu já tenha encontrado - as pessoas com quem eu dividirei o resto da minha vida. Mas essas não são utopias, são apenas restritas realidades que certamente me fariam feliz se eu vivesse elas, mas até aí quem disse que eu não sou feliz agora, vivendo minha vida mundana na minha pequenina bolha? E se eu sou feliz, isso não significa portanto que eu já esteja vivendo minha utopia? Afinal não é esse o grande objetivo da humanidade, ser feliz? Não é essa a grande utopia? Ou seria algo, bem, mais utópico, como ter todo o dinheiro, tempo e amor do mundo? Mas aí qual é a graça de ter algo se nada lhe falta?
O conceito é clichê. É necessário que haja escuridão para que haja luz, é necessário que haja tristeza para que haja felicidade, e assim por diante. Eu citaria alguém com mais credibilidade que eu para afirmar isso, mas já não me recordo da citação, enfim.
Não que eu seja romântico o suficiente para querer viver pobre, sem tempo e sendo odiado, mas sou romântico o suficiente para reconhecer a sublime beleza de tamanha melancolia, for I am “young and dipped in folly, (no doubt) I fell in love with melancholy”. Mas até aí, o que é belo e o que é sublime?
Seria alguém dormindo algo belo e sublime, uma vez que o ato de dormir é igualmente o momento em que nos fazemos mais vulneráveis, em nossas camas, e o momento em que nos fazemos mais livres, em nossos sonhos? Enfim, me desculpe pelos devaneios, creio estar um tanto obcecado com Le Lit de Henri de Toulouse-Lautrec ultimamente, um pintor famoso, veja só você, por seus cartazes.
Mas ainda que eu tenha feito esse retorno, estou desviando do assunto, que era: seria dormir minha utopia? Não, não era isso, apesar de eu ter certeza ser a utopia de muita gente. A pergunta era “qual é a minha utopia?” e eu sinceramente não sei responder e talvez eu nem queira, pois a partir do momento que eu alcançar a resposta não haverá nada além, eu terei tudo e qual é a graça de ter algo se nada falta?
“When you offer me happiness, you offer too much, my ideal is a long-lasting longing, for someone whom I cannot quite touch”
A graça não é viver em sonho, é ter que acordar pra realidade e poder ir dormir de novo no final do dia. Mas talvez isso tudo seja uma perspectiva um tanto romântica da coisa ou talvez não, o que sei eu sobre romantismo? Eu estou mais pra um classicista com recaídas de idealismo, ou talvez não. Talvez, talvez, talvez, “a great perhaps”. Talvez minha utopia seja estar vivo, mas talvez isso seja um ponto de vista demasiado utópico ou não, who gives a shit? I certainly don't.
0 notes
Photo

PLACE TO BE
Vivo numa bolha. Possivelmente e muito provavelmente numa bolha social, cultural, psicológica e emocional, mas até aí creio que todos nós vivamos em nossas próprias bolhas. Mas amplos ou mais restritos, nossos umbigos sempre serão o centro do universo, afinal uma vida não pode ser genuinamente compartilhada senão de maneira lírica. Todavia, nesse que é meu constante intento lírico, pretendo tecer uma vez mais sobre a bolha física que me rodeia.
No bairro de sempre outubro do qual me faço morador, as fronteiras são mais do que definidas ainda que não intransponíveis. Um bairro que consome a si mesmo, ignorando quase que em tom de deboche seus arredores. Um bairro que olha pro seu próprio umbigo como se ele fosse grande coisa.
Seus moradores, todavia, não olham pra esse umbigo da mesma perspectiva. Afinal, nada acontece nesse bairro, não se têm nada pra fazer aqui, eu não aguento mais esse lugar e similares são comumente proferidos pelos residentes desta bolha, principalmente, e talvez exclusivamente, pela parcela púbere destes que nela residem. O que a maioria deles não percebe é que num bairro verdadeiramente residencial, num real subúrbio, nada nunca acontece. Os reclames vem, portanto, não do desconhecimento das configurações de funcionamento de um subúrbio, mas sim por que o que existe neste bairro, digno da alcunha de sub-cidade que lhe é a literal tradução, não sacia o tipicamente jovem anseio por mais do que lhe cabe experienciar.
Ainda que autodeclarado um bairrista, deixo bem claro que não há em mim qualquer resquício de amor, carinho ou qualquer outro sentimento maior que uma simples simpatia auto-imposta por este lugar. Contudo, me recuso a afirmá-lo como um local estagnado, inerte, travado em alguma lacuna espaço-temporal onde nada acontece. Bem pelo contrário, muitas coisas me aconteceram aqui, independente do meu estancamento, da minha inércia e dos meus mergulhos em lacunas espaço-temporais. Algo se move, algo gira, ainda que seja um movimento tão imperceptível quanto o do coelho que não se decide animal ou estátua. Mas talvez isso seja apenas eu, refletindo somente sobre o que acontece dentro da bolha.
“When I was younger, younger than before, I never saw the truth hanging from the door, and now I'm older see it face to face, and now I'm older gotta get up clean the place”.
Me lembro do entusiasmo e da euforia que era andar por este lugar logo que me mudei. De onde eu venho, costuma-se trombar em praças e parques a cada 100 metros e para o meu prazer infantil aqui não é diferente. Eu procurava no mapa as praças que já havia visitado, mas nunca as encontrava. Passei a procurar por qualquer área verde, pedaço de grama ou poça d'água passível de lago que pude encontrar no mapa. Acabei explorando cada instância desse lugar e catalogando todos os conglomerados de mato que encontrei pelo caminho.
Me vejo agora responsável por apresentar tais locais a visitantes ou moradores letárgicos a exploração de seus arredores. Apontar qual a melhor praça pra que, onde ficam as árvores passíveis de escalada, onde se proteger da chuva em caso de uma tempestade repentina e por aí vai. Posso indicar o que ou quem possivelmente se encontrará dependendo de onde se vai, como os cogumelos venenosos do mini bosque, a súcia de cães sanguinários na encosta com sopé d'água, o playground, também comumente conhecido como castelinho, que uma vez encontrei tomado por post-its românticos de alguém certamente confuso quanto ao que é romântico, ou como a absorta fumante do topo da colina ou o velho que, boatos dizem, rodopia seu flagelo na base da colina. A colina, a mesma colina que também é vale, onde alto se erguem pinheiros e outras magnificências.
Tall trees, that for sure ain't layin' down, even if this old world keeps spinning round.
Há uma árvore chamuscada, retorcida e quebrada no topo dessa colina. Baixa e horizontal, ela oferece uma excelente variedade de assentos de fácil subida. Certa vez eu e um bardo tentamos desarmoniosamente invocar a lua sobre aqueles galhos. Muitas foram as vezes que e eu e eu mesmo tentamos invocar a nós sob aqueles galhos. Algumas foram as vezes que uma bruxa tentou harmoniosamente encantar a mim mesmo também sob aqueles galhos. A bruxaria só faria efeito, porém, ao sopé da colina, quando com o simples manusear de dedos fui literalmente embebedado de carinho. Se eu permitisse, a bruxa certamente me deixaria bêbado de outras coisas, mas como descreve a velha bruxa Patti Smith, quando se referindo a um outro alguém com nome de bruxo, “No,” I said, and he pretended to be mad. But I knew Harry. He just wanted to diffuse the intimacy of the moment. Whenever you had a beautiful moment with Harry he just had to turn it upside down". (Just Kids)
“And I was green, greener than the hill, where the flowers grew and the sun shone still. Now I'm darker than the deepest sea, just hand me down, give me a place to be”.
Eu não sei de onde vem esse meu ímpeto por estragar prazeres, de inverter completamente uma situação a ponto de todos os envolvidos passarem de um estado de puro júbilo a um estado de confusão e misantropia. Talvez um desejo estranho de soar ambíguo, de gerar irritação e ao mesmo tempo emanar serenidade. É como o peculiar flerte de um gato, que suplica por carinho pra momentos depois dar uma nada gentil mordida na mão que lhe acaricia. Acho que esse comportamento surge como uma maneira de criar distância, talvez de tentar não se deixar ser controlado, talvez seja uma maneira fazer com que os outros não esperem nada de mim, talvez seja só uma maneira covarde de fugir das responsabilidades inatas a viver em sociedade. Pobres são aqueles que simpatizam comigo pra logo mais ficarem desnorteados com os meus julgamentos demasiado excêntricos, comentários comicamente negativos e elogios que tendem a soar mais como insultos. Pobres vítimas do meu sarcasmo exacerbado. Pobres vitimas da minha bolha.
“In the blue light of dusk, there is a river. By the river, there is a fair. At the fair, there is music, a small stage, filled by a local band playing for their neighbors on a balmy night. I watch men and women lazily dancing in each other’s arms, and I scan the crowd for the pretty local girls. I’m anonymous and then . . . I’m gone. From nowhere, a despair overcomes me; I feel an envy of these men and women and their late-summer ritual, the small pleasures that bind them and this town together. Now, for all I know, these folks may hate this one-dog dump and each other’s guts and be screwing one another’s husbands and wives like rabbits. Why wouldn’t they? But right now, all I can think of is that I want to be amongst them, of them, and I know I can’t. I can only watch. That’s what I do. I watch . . . and I record. I do not engage, and if and when I do, my terms are so stringent, they suck the lifeblood and possibility out of any good thing, any real thing, I might have. It’s here, in this little river town, that my life as an observer, an actor staying cautiously and safely out of the emotional fray, away from the consequences, the normal messiness of living and loving, reveals its cost to me.” (SPRINGSTEEN, Bruce - Born To Run)
Meus olhos e meus ouvidos estão sempre a disposição de quem quer que seja, ao menos isso as pessoas podem esperar de mim. Minha não tão peculiar assim, mas igualmente anormal habilidade de observar e absorver. Não que seja de qualquer maneira útil quando se tem alguém em prantos ao seu lado e eu estou lá apenas pra ouvir e nada mais. Ao menos já era esperado que essa fosse a única coisa que eu faria. Ouvir o que se tem pra ser dito e absolutamente nada mais.
“Robert loved to hear of my childhood adventures, but when I asked about his, he would have little to say. He said that his family never talked much, read, or shared intimate feelings. They had no communal mythology; no tales of treason, treasure, and snow forts. It was a safe existence but not a fairy-tale one.” (SMITH, Patti - Just Kids)
Certa vez me perguntaram porque eu sempre pergunto da vida dos outros, mas não costumo falar da minha própria. Dei uma clássica desculpa de que a minha vida não é interessante ou algo do gênero. Fato é que eu já falo em demaseio da minha vida, no que eu escrevo, no que eu desenho, até mesmo nas músicas que escuto, tudo gira em torno do meu umbigo. E as vezes eu só quero que minha bolha estoure.
Não é à toa que meu gênero literário favorito é a autobiografia ou o memoir. Não é à toa que eu costumo lembrar das conversas que tenho e retomo assuntos ou comentários de alguma conversa passada para o sempre inicial, às vezes continuo, estranhamento da pessoa com quem estou a dialogar. Eu sempre acabo guardando essas interações, principalmente se houver algo novo, uma informação, uma descoberta, uma perspectiva, um sentimento, algo que até então não existia, something “out of thin air, out of this world, something that before the faithful were gathered here today was just a song-fueled rumor” (SPRINGSTEEN, Bruce - Born To Run).
Eu absolutamente discordo da assumpção de que tenho boa memória. Claramente é apenas resultado do meu psicológico demasiado auto-reflexivo. “Reflection is how you turn the sights you've seen into insights. It's how you turn experience into meaning.” (IYER, Pico)
So let me hear about your life. About your past and all the wonders that moved fast, about your present and why it seems a torment, about your future and the dreams you want to capture. Maybe we will discover something new about ourselves, maybe we will create something new within each other.
Muitas das pessoas ao meu redor vivem numa filosofia de se estar no momento, experienciando a vida e não dissertando sobre a experiência. Eu, por outro lado, costumo dizer que vivo de passado, muito provavelmente resultado dessa constante reflexão. Mas fato é que independente se as questões que nos acometem durante uma conversa sobre tudo e nada referenciam passado ou futuro, o estado momentâneo de se estar levantando esses questionamentos será a experiência genuína. Mais do que criar algo, mais do que conquistar algo, quando uma conversa permeia reais intimidades, por mais banal que seja o assunto em pauta, é quando o mundo gira, é quando o tempo de fato passa na pequena bolha que nos envolve.
Nostalgias de passados distantes ou aspirações a futuros longínquos são sentimentos que pra mim dizem respeito ao presente. A reflexão é sobre as extremidades da bolha tão ao longe, mas ela só pode partir de onde estamos, bem no centro, ponderando sobre o caminho que fizemos e pra onde vamos depois daqui, questões que inevitavelmente surgem em qualquer caminhada que se dê comigo.
É interessante como essa perambulação desnorteada que não leva a lugar nenhum, ao invés de fluir como qualquer que seja a analogia a algo que flua, se faz sempre atravancada, travando a cada esquina em que eu questiono quem quer que esteja comigo para onde vamos. A resposta vem sempre com um “não sei” ou um “porque eu tenho que escolher”.
A bolha é um ambiente muito simples quando se conhece ela, se sabe suas regras, seus obstáculos, seus limites e seus caminhos. E eu a conheço muito melhor que a palma da minha mão, devo confessar. De qualquer maneira quando a esquina ou o cruzamento ou qualquer que seja o caminho que não em linha reta surge a nossa frente, é como se estivéssemos completamente perdidos, apenas querendo chegar ao conforto e a segurança de nossas casas/refúgios sem saber em que direção ficam.
Agora que já perambulamos por um bom tempo, questionamentos de para onde vamos começam a ficar bastante frequentes. Pro desespero daqueles que questionam, as possibilidades vem não como uma entusiasmada certeza, mas como uma angustiante incógnita.
Eu não sei o que vai ser de mim nessa bolha, todas as pessoas com quem caminho por ela eventualmente irão embora, ou para uma nova bolha ou retornaram para uma antiga. Tal qual eu, nenhum deles é natural daqui, e diferente de mim nenhum deles se estabeleceu aqui, são todos andarilhos, nômades cujas vidas pertencem a outro lugar ou a lugar algum. Talvez quando forem todos embora, eu me enclausure ainda mais na minha bolha, talvez eu volte a explorá-la eufórico tal qual fazia logo que aqui cheguei. De qualquer maneira, sei que ainda que eu saiba perfeitamente para onde levam todos os caminhos, estarei andando completamente perdido.
“And I was strong, strong in the sun, I thought I'd see when day is done. Now I'm weaker than the palest blue, oh, so weak in this need for you.”
0 notes
Photo

SÓ GRAVAREI EM LOCAÇÃO E VOU PRA LÁ DE BICICLETA
Eu nem sei pra que vou escrever esse texto, não tem nada relevante nele pra ser exposto. Aliás, eu podia muito deixar isso apenas como um registro do meu diário, mas ia faltar poética, e eu tenho que publicar algo nesse troço sobre essa imagem, eu acho. Eu não sei, acho que só quero escrever sobre umas conversas que eu tive, sei lá.
Enfim, passei olhando para o retrovisor durante os pouco mais de vinte quilômetros até Caldas da Imperatriz, na esperança de não testemunhar minha bicicleta despencando do hack velho e mal posicionado sobre a tampa do portamalas. Felizmente chegamos a Caldas sem nenhum desastre e minha bicicleta, Brunhilda, pode protagonizar o filme, junto a minha cara de pau e falta de bom senso, tranquilamente.
Protagonizar o filme era apenas uma da minhas funções no projeto, já que eu - como escrevi no meu relatório quando discorrendo sobre as funções de cada membro da equipe - “[...] que sofro de um gravíssimo caso de desvio de função, acabei primeiramente sendo designado como roteirista”. Essa minha disfunção sempre se apresentou em todos os filmes que fiz, mas até então eu tinha como justificativa a máxima de que o primeiro filme, Lunão, era o primeiro filme, e tudo subsequente a isso foram projetos individuais ou muito pequenos, sendo quase impossível que um membro da equipe não cruzasse com a função de um outro. Contudo, na atual conjuntura das coisas, depois de feito esse filme e ter trabalhado e outros dois que nada tem a ver comigo, fica bem claro que se eu estiver em um set, acabarão tendo que me creditar como assistente geral ao invés de uma função específica para a qual eu tenha sido chamado.
Mas enfim, em Sanguíneo, título que eu não escolhi para o filme cujo cartaz ilustra este texto, eu além de ter sido roteirista, protagonista e, obviamente, ter feito o cartaz, também contribuí na concepção fotográfica, arranjei boa parte dos objetos de cena, montei o filme, fiz o desenho de som e qualquer outra coisas a qual minha atenção fosse necessária. Tempos depois eu também montaria o que considero uma das duas obras primas oriundas desse projeto, o Making Of.
Não me interprete mal, caro leitor, não é minha intenção gabar-me da quantidade de funções que assumi, bem pelo contrário, é bastante besta da minha parte assumir tantas funções, mas do meu ponto de vista é apenas óbvio que sinto prazer em fazer filmes, independente da função ou funções, aliás, quanto mais eu poder participar melhor. Acho que comecei a ver sentido nesse negócio no qual me meti. Esperança, acho que costumam chamar.
Gravamos o filme, e quando digo “gravamos” quero dizer eu, meu habitual parceiro de crimes Renan Rigon, a semideusa Débora Espit, o ícone incomparável Ariane Derner, a musa inspiradora parceira de melancolias Luiza Medeiros, e Dionathan, o cara com os equipamentos e o carro pra levar todo mundo, incluindo Brunhilda e Liada, que enfim, estavam lá em Caldas com a gente, onde o filme foi majoritariamente gravado. Mas especificamente em um hotel abandonado, o infame Hotel do Chinês, onde aparentemente costumavam acontecer raves, eventos de motocross, e mortes.
Dificuldades no transporte de bicicletas, cachorros quentes, peidos e mosquitos, foi isso que compôs a divertidíssima experiência de se gravar Sanguíneo, como a collage-art que Ariane fez, a outra obra prima oriunda desse projeto, resume bem.
Re-afirmei e descobri certas coisas com a produção desse filme. Algumas coisas relativas a fazer cinema, algumas coisas que dizem respeito as minhas capacidades, algumas coisas que são muito importantes pra mim, mas pelo ritmo em que anda esse texto e parafraseado Patti Smith em Just Kids, “If he discovered anything on his own, he kept it to himself”.
O que eu não iria descobrir nesse filme, mas sim no próximo em trabalharia e o fato de que, independente do meu envolvimento ou não na criação de um filme, meu desvio de função é real e ele tende a atacar assim que eu entro em set.
“Eu não vou trabalhar em nenhum TCC esse ano, quero me focar nos meus projetos pessoais”, todos me ouviram dizer. Não dá muito e Renão pede encarecidamente que eu, como bom coveiro que sou, tape um buraco no TCC em que ele está trabalhando. Não dá muito tempo e além desse buraco outras duas covas são reportadas necessitando de reparos. Quando eu chego no cemitério, acabo tapando uma outra cova que até então eu nem sabia da existência, também dou um reparo nas lápides, troco as flores, aparo o gramado e faço figuração em alguns velórios. Meu cargo no cemitério? Assistente geral. Fora os momentos em que, acordando as oito da manhã e indo dormir as quatro da madrugada, assumi, junto ao demais membros da equipe em set, o cargo de morto-vivo de plantão. “They're coming to get you Barbara”, e by “they” I mean o sono, que acabava levando ao desfalecimento qualquer um que recostar-se em qualquer que fosse o canto do set.
E duas semanas depois dessa miríade de funções eu estava novamente sem cargo específico em um outro TCC, no qual caí tão por acaso quanto. Mas enfim, creio que o ponto já esteja bem explanado, então não vou me estender muito sobre esse set de mortos-vivos em específico, pois basicamente eu estava lá, fazendo o que eu tivesse que fazer, do catering a logagem, logagem essa que evoluiu de uma prancheta na cintura, pra uma fita crepe no meu braço, pra uma tabela no meu telefone, e assim manteve-se do primeiro para o segundo TCC. Veja só você, não é que esse negócio de tecnologia presta pra algo.
O que foi de fato relevante na minha experiência de set nesses dois TCCs, e que já era muito claro quando gravamos Sanguíneo na primeira metade do ano, foram as interações com os espaços e as pessoas ali presentes.
O primeiro TCC foi gravado em Jurerê Internacional e todas as idas à praia, que ficava duas quadras de distância da casa, foram marcantes, senão peculiares. No primeiro dia éramos eu e Renão, feito duas crianças ansiosas indo na praia e dando umas voltas no bairro no meio de uma chuva, e obviamente não tínhamos guarda-chuva. Depois teve a ida reflexiva e melancólica no meio da madrugada com parte da equipe, e então teve a ida na finaleira antes de irmos embora, também de madrugada. Ela foi precedida por uma pseudo festa/balada com muita, mais muita fumaça em um dos quartos, ideia de Kamila, oficialmente a fotógrafa de fumaça, posta em ação por Greg, um verdadeiro amante de redes e do nada fazer, e foi encerrada com a descoberta e o avistar de uma das luas mais bizarramente lindas que já tive o prazer de testemunhar. É uma pena que você não estava lá pra ver, caro leitor.
A locação do segundo TCC foi melhor ainda. Uma casa literalmente na beira da Lagoa da Conceição, com direito a trapiche e muito lagartear na rede. Greg que o diga. O que foi, na verdade, o motivo pra eu ter participado do TCC. Eu havia visitado a locação pra ajudar com o fotoboard e o videoboard, fiquei maravilhado e prontamente me dispus a chegar uns dias antes do resto da equipe e limpar tudo. Ou seja, tive aquele lugar mágico só pra mim, e pra nada fazer. Por um dia inteiro vivi a vida de rico aposentado com a qual tanto anseio.
Nessa estadia estendida tive a oportunidade de descobrir várias coisas na casa, incluído bizarrices como o montinho de areia aleatório em cima de um móvel, um abajur com a lâmpada verde, um cancerzinho no chuveiro principal, um armário com tanta bebida alcoólica que o grau etílico só do cheiro daquele troço já era mais alto que muito vinho vagabundo, entre outras coisas.
Como averiguei e organizei todos os colchões, colchonetes, travesseiros e outros aparatos de dormir da casa, acabei ajudando a organizar quem dormiria onde e com quem. O que soa irônico uma vez que eu dormi no sofá e tive que me contentar com uma almofada como travesseiro, porém, diferente de muitas pessoas, eu dormi sozinho na única coisa naquela casa que não estava mofada, assim como a almofada que utilizei, mais limpa que qualquer um dos travesseiros fedorentos disponíveis.
Não tivemos nenhuma lua mágica naquele lugar e tão pouco tivemos coragem de molhar nossos pés na Lagoa como fizemos na praia, na ocasião em que a areia estava tão gelada que ficar com os pés dentro d'água era melhor do que pisar na areia. Mas em qualquer que fosse a oportunidade estávamos na frente da casa. No trapiche, na rede, onde fosse, passávamos apreciando a vista e a brisa frente a lagoa.
O que reflete bem o ritmo do set, bem diferente da gravação em Jurerê. Enquanto lá acordávamos às oito e só íamos dormir às quatro sem conseguir gravar todos os planos do dia. Na lagoa acordávamos às oito pra ir dormir às quatro, não porque ainda estávamos gravando, isso já tinha sido encerrado muitas e muitas horas antes, mas sim porque queríamos bater papo e passar frio até altas horas da madrugada. Em específico eu Greg e Luiza, os três apertados na rede debaixo das cobertas. Não era a primeira vez que fazíamos isso e certamente não será a última, pois, e na verdade este texto é sobre isso, se perder em conversas sem rumo com pessoas maravilhosas é uma das melhores coisas desse mundo. Se divertir é uma das melhores coisas desse mundo.
“I've opted for fun in this lifetime” (de acordo com a internet, Jerry disse isso, e eu vou concordar com os dois)
0 notes
Photo

AI QUE ÓDIO
Olá caro leitor, seja bem vindo a mais um texto deste que venho a chamar de troço. Mais um texto sobre nada em específico, mais um texto onde uma imagem aleatória falsamente ilustra auto-análises e confissões sobre um inseguro indivíduo por meio das vozes de outros indivíduos em pretensiosas citações mergulhadas em estrangeirismos que parecem não querer mais do que reiterar a melancolia e o pessimismo presente em meu ego. Eu poderia, se uma alternativa vem a calhar, limitar tais ponderações aos meus arquivos pessoais, algo que muito fiz e ainda faço, mas por algum motivo escolho desviar certos textos para cá. Penso que talvez, ainda que minha intenção primária seja esbarrar em algo relevante neste meandro de divagações, essencialmente eu queira que alguém me leia.
Pois bem, a ilustração em pauta é uma concept art realizada para um dos trabalhos de conclusão de curso dos meus colegas do cinema. Até onde eu entendo da versão do roteiro que li e das intenções e referências que me foram informadas, esse monstro, javali, javalonstro, é a manifestação da insegurança, da crueldade, da raiva, e coisas do gênero, experienciadas pelo protagonista do filme. Em suma, ele é o bicho papão da vez, sua personificação do medo. Por que a cabeça de um javali no corpo de um homem? Bem, pode-se assumir que o corpo de homem é mais simples e barato de se fazer atuar do que o corpo de um javali, já o elemento javali em si é um porque a ser perguntado ao diretor, talvez seja algum acréscimo pessoal da parte dele, ou talvez não. Eu sou responsável somente pelo “conceito” da arte, não da narrativa.
“Long ago, the defenses I built to withstand the stress of my childhood, to save what I had of myself, outlived their usefulness, and I’ve become an abuser of their once lifesaving powers. I relied on them to wrongly isolate myself, seal my alienation, cut me off from life, control others and contain my emotions to a damaging degree. Now the bill collector is knocking, and his payment’ll be in tears.” Escreveu Bruce Springsteen em sua excelente autobiografia Born to Run (2016), a minha “áudio-leitura” da vez.
Muito dentro de contexto para pra um texto meu? Talvez. Mudemos de assunto então. Tal qual Bruce - e eu - se isola, se corta da vida e controla suas emoções, Ashitaka, o protagonista de meu filme favorito, Princesa Mononoke, se isola, se corta da vida e controla suas emoções. Ou ao menos tenta, já que o único real desvio da infalibilidade de Ashitaka é nunca ter conseguido assumir o capuz de “homem morto”, como havia sido condenado a fazer no inicio filme, se apresentando bastante vivo a qualquer um que lhe aborde.
Ashitaka foi amaldiçoado por um demônio-javali consumido pelo medo e pelo ódio. Em função disso, tal qual todos os demais personagens de Mononoke, ele carrega esse ódio assassino dentro de si, porém, ainda que o seu seja o único capaz de assumir uma forma e realmente intentar o controle das ações de Ashitaka quando em manifestação, ele é o único dos personagens capaz de controlar seu ódio. San tem na manifestação de seu ódio um desejo de vingança, Eboshi tem na manifestação de seu ódio os entraves a suas ambições. Nenhuma das duas se percebe-se cega pelo ódio que carrega, Ashitaka por outro lado pretende ver com olhos desobscurecidos... e com toda a paciência do mundo.

“A slow nature such as Maurice's appears insensitive, for it needs time even to feel. Its instinct is to assume that nothing either for good or evil has happened, and to resist the invader. Once gripped, it feels acutely, and its sensations in love are particularly profound. Given time, it can know and impart ecstasy; given time, it can sink to the heart of Hell.” Escreveu E. M. Forster em seu romance tardio Maurice (1971), adaptado para o cinema brilhantemente por James Ivory em 1987.
Eu sempre tendi a calmaria e eventual controle de emoções mais exacerbadas, um tanto quanto estoico da minha parte. Quando pequeno, no fundo do que fora meu abismo de inseguranças, como uma maneira de construir defesas, hoje em dia, como uma maneira de suprimir minha inseguranças e tentar, se possível, de fato enxergar com mais clareza. Tento ignorar raiva, rancor e quaisquer sentimentos de aversão que possam vir a me acometer. Se há algo que eu realmente odeio, e soar mais idilicamente piegas é impossível, é o próprio ódio, em mim, nos outros e neste mundinho de merda, mesmo que meu sarcasmo negativista faça com que publicamente eu declare ódio a tudo e a todos.
Assim como Bruce, esse excesso de controle acabou por atingir um nível prejudicial a minha vivência ou ao menos um não saudável, me tornando distante e insensível. Mas eu não consigo evitar, desde sempre me fiz simpático a estes códigos não escritos de cavalaria e do cavalheirismo, na busca por um ideal infalível que em muito Ashitaka, desde a primeira vista um role model, representa. Um personagem que não é rancoroso, egoísta ou ganancioso, orgulhoso ou vaidoso, não é excessivamente confiante, tampouco é um covarde, não pode ser insultado e se recusa a insultar os outros senão por sua própria inércia.
Não que eu tenha incorporado em qualquer grau este inexistente ser humano ideal, bem pelo contrário, eu confesso ter imenso prazer em soar esnobe, pretensioso e o mais cheio de soberba que consigo soar, todavia, igualmente vejo prazer na confusão gerada quando momentos mais tarde ofereço um lugar debaixo de meu guarda chuva, me ofereço pra carregar peso ou para me estender-me frente a luz que irrita seus olhos ou, servindo como barreira do vento que nos resfria, não me atrevo a mencionar a então acordada revesa de posições. As reações a essas atitudes tendem a reproduzir algo similar a San sendo confrontada pelo “você é linda” de Ashitaka. O mais interessante, é que agora que mencionadas tais atitudes, eu volto a soar tão pretensioso quanto antes.
Ainda que um personagem quase que, senão totalmente, sem falhas, um personagem tão omisso que na completude de seu idealismo poderia facilmente ser tão imparcial quanto o próprio Espírito da Floresta, Ashitaka escolhe um lado da batalha, o que me parece, ironicamente, tornar ele ainda mais “ideal”. Parafraseando Ian Danskin, outro divagador pretensioso da internet: "in considering every view it's your job not to be paralyzed by too much perspective". Esse é um deus eu ainda não tive coragem de cortar a cabeça, todavia. Coragem de seguir com a perspectiva expressa na minha própria autobiografia ao invés de ficar estagnado analisando a perspectiva escrita na autobiografia dos outros.
Isto posto, que Bruce fale por mim mais uma vez: “I was sliding back toward the chasm where rage, fear, distrust, insecurity and a family-patented misogyny made war with my better angels. Once again, it was the fear of having something, allowing someone into my life, someone loving, that was setting off a myriad of bells and whistles and a fierce reaction. Who’d care for me, love me? The real me. The me I knew who resided inside my easygoing façade.”
#zanini's journal#mononoke#ashitaka#bruce springsteen#born to run#cinema#concept art#pintura digital#desenho
3 notes
·
View notes
Photo

TEM QUE TER TÍTULO ESSE NEGÓCIO?
Well, well, well, here we go again. To where? I don’t know and i don’t care.
“We demand rigidly defined areas of doubt and uncertainty.”, diriam os filósofos do Guia do Mochileiro das Galáxias, com os quais eu não discordaria uma vírgula. Mas, supondo que eu coloquei a imagem do cartaz de Luna aqui por algum motivo outro que simplesmente “ilustrar” um texto sobre absolutamente nada, falemos de Luna ou, como é mais conhecido, o grande Lunão.
Há tempos, realmente há tempos, um texto sobre Luna, este curta-metragem imortal, se fazia presente nas minhas listas de “algum dia”, “pra não esquecer”, “talvez seja interessante”, etc, etc e tals. Primeiramente porque era meu desejo discorrer sobre a produção do cartaz, como fiz aqui com outros projetos subsequentes; depois porque ao montar o making of do filme pensei que divagar sobre os agora nostálgicos momentos durante a produção cairia bem com o formato ao qual eu inevitavelmente tenho levado o troço; agora preguiçoso, porém - como deixei bem claro no texto anterior a este - e com vontade de egocentricamente refletir sobre mim mesmo, usarei Luna apenas como ilustração de mais um texto sobre absolutamente coisa nenhuma, e de quebra já elimino um item da minha lista.
Para minha sorte - agora, na época foi só desespero - após realizarmos o filme tínhamos que produzir um dossiê do projeto, incluindo relatórios pessoais de todo o processo, com os quais eu encarecidamente encherei sua paciência agora, caro leitor, mas não se preocupe, eu irei editá-lo.
“Era sábado, os grupos estavam sendo formados. Este, especificamente, continha um produtor (Renan), um cara do som (Paulo), uma diretora de fotografia (Indrea), e um diretor (Rafael); de sobra acabaram entrando, coincidentemente, todos os (W)Victors da sala, Zanini (este que vos escreve) na assistência de direção, Villac na direção de arte e Galles na edição.
A princípio idéias pertinentes pareciam escassas, a não ser por uma que surgira portentosa como a lua cheia em uma noite de domingo (19). Genial, ela consistia em um falso documentário sobre a vida universitária de um grupo de vampiros e fora aceita com aplausos incansáveis e comemorações diversas pelos membros da equipe, que julgavam ser aquela a ideia mais brilhante que o mundo já havia presenciado. No entanto, cláusulas do regulamento da produção restringiam a confecção de obras no formato de falso documentário, obliterando por completo a tão primorosa ideia e pondo em depressão aguda todos os membros da equipe.
O novo plano de ação viria de Renan, o produtor, que em uma óbvia tentativa de assumir o controle do projeto, convenceria a todos de jogar a antiga ideia no lixo e seguir com um roteiro pronto, que este já havia redigido, muito provavelmente, meses antes, quando começara a forjar seu plano de dominação mundial.
Com o enredo basicamente estabelecido, ao menos nesta primeira versão, começou-se a decupagem das cenas, em um sábado (25/MARÇO). Houve certo lapso de compreensão mútua entre os membros da equipe, que demonstravam dificuldade de explicar e entender certos conceitos e elementos que se procurava serem inseridos no filme. Ainda no mesmo dia a equipe fora alertada, por um dos orientadores, do demasiado uso de linguagens poéticas e simbólicas.
O processo de decupagem demonstrou-se longo e tortuoso. problemas de comunicação entre a direção, fotografia e assistência, dificultavam sua confecção. Inicialmente uma decupagem bastante simplória fora redigida pelo departamento de assistência, em uma falha tentativa deste de assumir o controle narrativo do filme. À essa versão preliminar de uma pseudo decupagem foram acrescidas sugestões por parte da fotografia. A segunda versão decupagem, pode-se denominá-la também de primeira versão alternativa da decupagem, fora redigida pela direção em cima do roteiro. Revelada tardiamente apenas na data de reunião do grupo, esta versão foi rejeitada, sendo iniciada, na mesma reunião, uma nova versão da decupagem, assumindo como base as duas versões anteriores e as sugestões de toda a equipe presente. Essa, terceira, versão da decupagem já possuía a formatação correta e fora parcialmente finalizada pelo departamento de assistência posteriormente.
Em virtude da exigência de cortes e comprimento de prazos, alterações desorganizadas foram feitas a esta (4ª?) decupagem, gerando conflitos com o roteiro e com o storyboard, que havia começado seu processo de confecção.
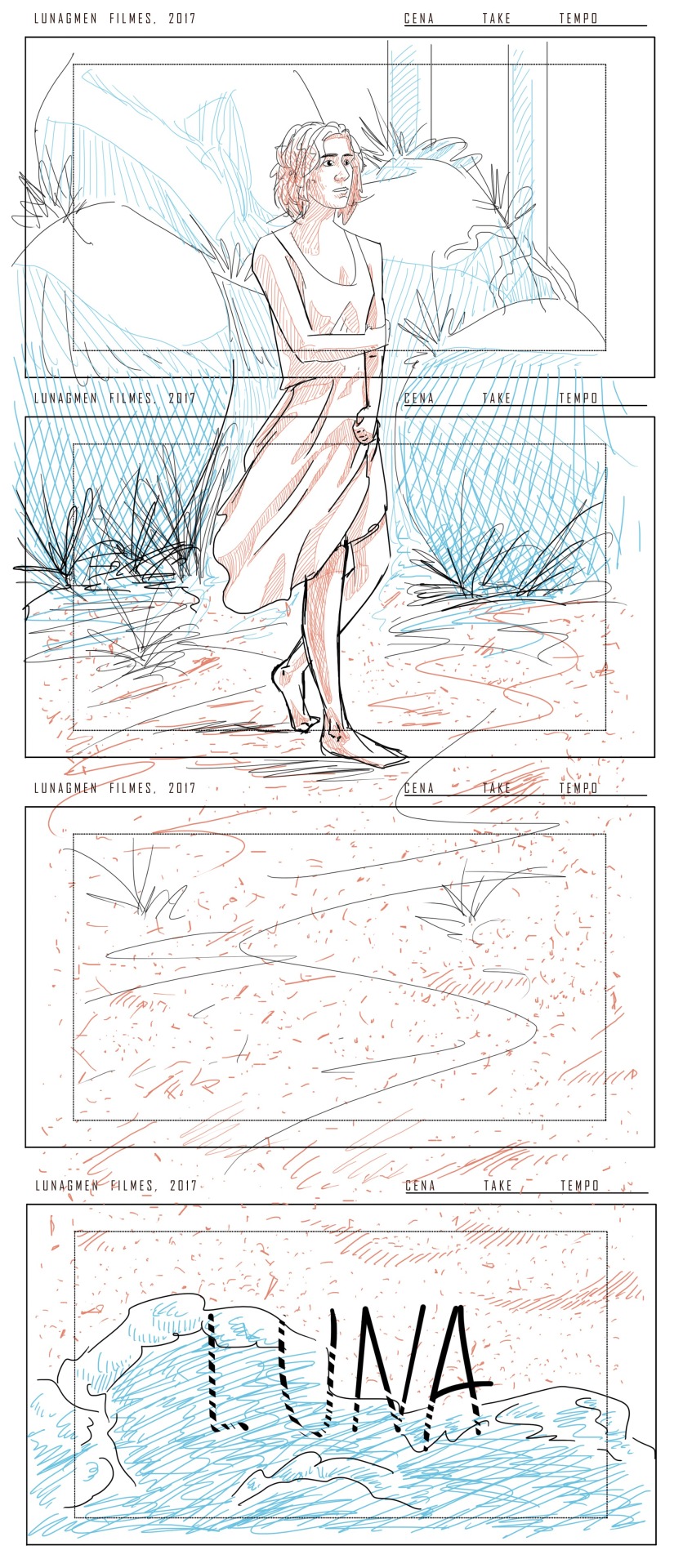
Os storyboards começaram a ser desenhados em uma sexta-feira (31/MARÇO) por um especialista em arte esdrúxula, conivente com a escola italiana de orientação barroco-tenebrista de Reggio Emilia. As peças, portadoras de tamanha vistosidade, foram aplaudidas incessantemente por todos aqueles que as observavam, como que uma vasta coleção de Monas Lisas sendo admiradas por um enorme bando de de turistas leigos decepcionados pelo diminuto tamanho da obra, ou algo semelhante.
Em paralelo ao processo de confecção dos storyboards a produção e, principalmente, a direção de arte buscavam por uma locação ideal às necessidades do projeto. Era requerido um escritório de grande porte, alta circulação de pessoal e baixo nível social, em suma um belo Call Center (Central de Atendimento). Em meio a essa troca constante de possibilidades e tentativas de locação, os storyboards eram alterados e redesenhados para se adequarem às mudanças, da mesma maneira eram as plantas baixas, que acabaram por suscitar novas sugestões de enquadramento e eventualmente uma nova decupagem (5ª???).
Sem um avanço nas negociações para arranjo de uma locação, optou-se pelo adiamento das gravações, e devido igualmente a outros problemas mais um adiamento sucedeu o primeiro. A produção começara a apresentar seus problemas drásticos.
Quando assistimos ao material captado, foi constatado, para o nosso desespero, que era pouco para o mínimo proposto para a disciplina. Tivemos de nos forçar a criação de novo material para preencher as lacunas de improviso.
Na segunda diária de gravação, muitas das cenas foram inventadas na hora, não só pois não tínhamos as planejado anteriormente, como o fato de estarmos confortáveis para trabalhar uns com os outros fez com a gravação fluísse com o dobro da velocidade e metade do estresse. A esse ponto eu e Renan já tínhamos assumido a direção do filme, não somente por estarmos mais inseridos no projeto criativa e fisicamente, mas principalmente porque nosso incompetente diretor havia debandado.
É assertivo afirmar que um dos maiores problemas fora relativo ao som e tudo o que o circunda. O projeto já havia perdido seu responsável de som preliminar (Paulo), contudo esse já tendia a ser substituído pela equipe de som veterana, uma espécie de terceirização da coisa. E eventualmente as capitações em set foram feitas pelo recém agregado ao grupo, Lucas. A equipe terceirizada, pode-se afirmar, apenas piorou o as coisas e em algum grau não foi responsável por mais do que a gravação das narrações da protagonista.
Na pós-produção me juntei a Renan para montamos um guia para nossos editores, e após inúmeras sessões cansativas na casa de Wictor e Renan, finalizamos o projeto."
Na correria de entregar um filme, um dossiê com mais de cem páginas e todo uma infinidade de coisas das quais eu nem sequer lembro, produzi o cartaz. Resumindo o cartaz, portanto, temos uma fotografia da atriz como base, um meteoro, uma lua, a ideia do nome do filme estar escrito na areia da praia, uma edição de cores bem hipster e uma experimentação com brushes estranhos no photoshop.
Resumindo Luna, por sua vez, temos nosso primeiro filme ou ao menos o primeiro relevante pra maioria de nós. Como é de se esperar, creio, de todos os primeiros filmes, tivemos problemas. Perdemos um diretor e um responsável de som - aparentemente, confesso que não faço a menor ideia de que seja Paulo - faltou-nos material para completar o filme e tivemos de improvisar de última hora; os responsáveis “terceirizados” pelo som simplesmente cagaram em cima do que já existia, não era necessariamente bonito antes, mas também não era um cocô; e no mais, fizemos um filme cheio de buracos e solavancos, resultado tanto na nossa inexperiência quanto dos já mencionados problemas de produção.
Basicamente não sabíamos o que estávamos fazendo, mas nos divertimos horrores e até hoje, no que diz respeito a se fazer filmes, o processo é sempre mais interessante, prazeroso e enriquecedor do que acaba sendo o resultado. Ao menos pra mim.
Ter toda essa inexperiência que acarretou tantos problemas e dificuldades fora, no final das contas, um dos pontos mais interessantes da produção, uma vez que, sem bases referenciais propriamente estabelecidas, éramos livres e carentes de medo de ousar com o que bem nos vinha a cabeça. Estava em prática o clássico dizer do cinema que eu adoro inverter: tínhamos “uma ideia na mão e uma câmera na cabeça.” E assim se produziu Luna, um filme que, por mais incrível que ainda pareça pra mim, ganhou a tão disputada premiação interna do curso, mas também foi só isso. O que talvez diga muito sobre os filmes produzidos naquele ano, quiçá talvez em todos.
A proposta temática que foi nos dada para criação do filme, se bem me lembro, era intolerância. Luna é, por sua vez, em um grau ou outro, sobre relações interpessoais, uma relação de assédio, uma relação abuso, algo que vem da infância, algo que é do momento, todos os elementos estão ali inseridos, intérprete a linha narrativa como lhe cai melhor. Ironicamente, dentre as muitas coisas absorvidas durante a produção a que creio ter mais ecoado entre os membros da equipe, ou alguns ao menos, foi justamente a construção de relações interpessoais, não ruins como expressas no filme, mas boas, verdadeiras e duradouras, ainda que tenham existido relações de ódio em meio a estas, confesso.
Sendo bem clichê: conheci pessoas maravilhosas, fiz amigos pra vida... e todo aquele papo sentimental com qual a maioria dos meus colegas vai concordar como o motivo de não se arrependerem de ter escolhido estudar esta bela merda, entre muitas outras coisas, que é o cinema.
Pobre Luna, coitada, só cultivou relações dolorosas, mas no final conseguiu libertar-se dos espectros que carregava ao gritar essa dor e não guardar pra si mesma. Ou ao menos essa era a ideia, eu acho. Tomar uma atitude ao invés de aceitar o mundo ao seu redor e esperar ele girar por você.
Tá virando auto-ajuda? Talvez esteja, mas grandes obras também têm sua mensagem de auto-ajuda, afinal, Lunão está aí para me provar correto. Bem, talvez uma obra um pouco maior… Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangerion, 1995-1996), por exemplo, a obra prima de Hideaki Anno. Sim, Evangelion tem camadas e camadas, mas se explicitamente personagens tentam ajudar outros personagens, expondo suas falhas e sugerindo concertos, ao ponto de fazerem um episódio inteiro sobre isso, não contaria como auto-ajuda?
Evangelion também é sobre relações interpessoais… bem, mas até aí a vida também é… enfim, o que eu estou querendo fazer aqui é criar, fracassadamente, uma ponte entre os assuntos para parar logo de falar de Luna e começar a falar de Evangelion e do que eu mais quero falar, de mim. Os norte americanos chamam isso de “segue”, pronunciando sé-gu-e, no entanto a palavra vem do italiano “segue”, que apesar da pronúncia distinta é mesma coisa que o nosso “segue”. Ou seja, é mais fácil eu simplesmente seguir pro próximo assunto.
Shinji, o protagonista perturbado de Evangelion, tem esse mesmo problema, fazer tudo ao seu redor ser sobre ele mesmo, porém é ingênuo demais pra perceber sem perceber. Numa ambição por afirmar a si próprio, ele acaba afastando o outro, ainda que anseie por aprovação e carinho. Seu equívoco, e isso é constantemente reafirmado na série pelas personagens de Misato e Asuka, é não ter iniciativa, nenhuma iniciativa, nem sequer para afirmar a si próprio e muito menos para engajar-se nas relações interpessoais que tanto almeja e tanto teme. Shinji, diferente de Luna, espera que as coisas venham até ele, prefere receber ordens do que tomar suas próprias decisões, afinal é mais fácil viver uma vida cujo peso não cai sobre suas costas.
“someone who hates themselves, will project that hate, and will then be unable to trust others.”
O ambiente que Shinji habita é certamente drástico, e as relações, senão estranhas, certamente incomuns que os demais personagens tem uns com os outros e com eles mesmos, igualmente não facilitam a situação, mas é bastante óbvio que Shinji é um personagem perturbado, um escroto de marca maior, que sim, tem seus traumas, mas que não justificam o quanto um merda, sendo bem claro, ele é. E esse é um dos fatores que o tornam um personagem tão interessante e que, justamente a outros elementos de mesma natureza, engrandecem Evangelion.
Personagens falhos, consequentemente mais humanos, são sempre mais interessantes que personagens infalivelmente plásticos, o ponto fora da curva ou mais fora da curva ainda no protagonismo de Shinji, é o fato de que ele é puramente falho. Não há um sequer acerto em todo o arco do personagem, nem na série clássica nem nos longas-metragem sequenciais Rebuild of Evangelion (2007, 2009, 2012). Shinji é um personagem apático do início ao fim, não que ele careca de momento empáticos, mas carece de momentos simpáticos, e se Hideaki Anno não conseguiu convencer o espectador disso durante todo o decorrer de vinte e seis episódios, ele certamente conseguiu com a masturbação perturbadora do início de The End of Evangelion (1997).
“The terror that i’ll disappear. But i feel like i’ll be fine if i disappear. Why is that? 'Cause no one wants me, i'm one unwanted human being. I knew it, i’m an unwanted child. I don't matter to any one and i never have! You’re running away because you think nothing matters, aren't you? You’re afraid of screw it up, aren't you? You terrified of having people hate you, aren't you? You scared to look the weakness inside you, aren't you. Yeah, but you're no different that i am, Misato. That's right, we all share this thoughts and feelings. That's something in ours hearts that's missing, and we are terrified of it, we are anxious, and that is why we are trying to melt in to one. We are trying to fill in each other's gaps.”
Tal qual Evangelion, Luna também teve suas versões alternativas, mais uma das várias semelhanças que as duas obras não possuem. Renan Rigon, nosso excelente produtor e co-diretor de Luna, resolveu remontar o filme em uma versão de um minuto, o que em suma resultou em outro filme ao invés de uma versão resumida do mesmo, mas acho que a intenção era de fato essa, naquele ponto só queríamos esquecer que Luna, o filme, existia. Grandes, ou Cage internacionalmente, não ganhou nenhum prêmio até o momento, mas já foi exibido até mesmo no Paquistão, veja só você.

Daqui pra frente eu poderia continuar apenas com citações. Tenho percebido que gosto de me expressar por meio delas. Tanto pra reforçar minhas verdades, quanto para expor as verdades, minhas ou do mundo, que tenho medo de expressar. Talvez eu prefira que o outro fale por mim, nesse aspecto não posso negar minhas semelhanças a Shinji, mas garanto que em grande parte gosto de usar citações porque fica pomposo e soa pretensioso, assim como é uma maneira de expor o conteúdo que tenho consumido, o que, se bem me lembro, era o prop��sito principal deste troço, principalmente na época em que ainda não era um memoir, ou seria uma epístola? Me deparei com esse questionamento quando uma amiga sugeriu ser interessante desenvolvermos uma relação epistolar. O termo me era familiar mas precisei pesquisar seu total significado para entender o que se estava sendo proposto. Um autor que usa muitas epístolas e muitas citações - e escreve memoirs como ninguém - é Stephen Fry, principalmente como recurso narrativo em The Hippopotamus, romance de 1994 que recebeu uma boa adaptação cinematográfica, ainda que carente da profundidade e certamente dos temperos que tem a versão textual, em 2017. Se isto que vos escrevo pode ser considerado uma epístola, um memoir, ou quiçá um artigo, eu não sei e eu não ligo.
Uma das minhas características que bastante me agrada, apesar de causar ojeriza nos demais - e talvez seja esse o motivo d'eu gostar desta - é a certeza de não ter certeza de absolutamente nada. Me permito ficar indeciso e dizer “não sei” sem titubear, na necessidade de sempre pensar mais, por vezes demasiado mais, profundamente sobre qualquer que seja a coisa. Mas talvez eu esteja apenas fugindo da responsabilidade de decisão.
“Sometimes people use thought to not participate in life”, diria Chbosky. Não, nenhum filósofo russo, mas sim Stephen Chbosky, o autor de The Perks of Being a Wallflower e diretor de um dos meus filmes favoritos. Mas eu já falei disso em outro texto neste compilado de epístolas… memoir?... troço.
Enfim, eu sei, Charlie sabe, Chbosky sabe, Shinji sabe, Anno sabe, Luna sabe, você, caro leitor, sabe que relações interpessoais são complicadas, possua-se elas ou não, tendo-se medo de que elas deem errado ou jogando-se nelas pra ver no que vai dar, participando-se ou não, relações interpessoais são complicadas. Como diria a maravilhosa Carrie Fisher:
“...with these human beings you never know. They might not want to hurt you. They might even like you, and that would be the worst possible thing that could happen. Because what can you do with people that like you, except, of course, inevitably disappoint them? It’s very dangerous to have someone like you, because one day he’ll find that you are not the person he thought you were. He’ll end up someday having only one thing in common with you and that’ll be a shared sense of contempt and disgust for you. Of course you knew all along how foolish and worthless you were, you just hoped that if you crouched down behind yourself enough he wouldn’t see it. But one day when your guard is off-duty you see him see. You both catch you at yourself. Catch you behaving. And then you’re lost. No. You were lost all along."
Perdão, eu falei, “como diria a maravilhosa Carrie Fisher” quando na verdade deveria ter falado “como escreveria a maravilhosa Carrie Fisher e como leria maravilhosamente sua filha Billie Lourd”, que narra de maneira estupenda os trechos de poemas e epístolas do diário que Carrie escreveu durante as filmagens do primeiro Star Wars, incluso, creio que em partes, em seu último memoir, The Princess Diarist (2016).
Enfim, é complicado, é bem complicado… Mas no final das contas não seria a vida se não fosse, não é mesmo? Como diria Marvin: “loathe it or ignore it, you can't like it."
CARRIE FISHER BÔNUS
Don’t offer me love
I seek disinterest and denial
Tenderness makes my skin crawl
Understanding is vile
When you offer me happiness
You offer too much
My ideal is a long-lasting longing
For someone whom I cannot quite touch
#zanini's journal#Luna#Lunão#carrie fisher#neon genesis evangelion#deseho#cartaz#poster#pintura digital#audiovisual#cinema
0 notes
Photo

FINDOU, CESSOU, SE EXTINGUIU, PADECEU, MORREU A MAMATA
Peço desculpas, caro leitor, por ambos texto e demora em publicá-lo. Verdade seja dita, o troço é meu e eu faço com ele o que bem entender, fora que, e eu creio que você concorde comigo, caro leitor, não há real compromisso atrelado ao troço, uma vez que não há real leitor para que eu me comprometa com. Para minha angústia, todavia, soa como se houvessem, o que implica a mim um sentimento de culpa por não estar fazendo jus ao status que o troço outrora tivera. Qual status eu não saberia lhe dizer, mas deve haver algum.
Eu havia prometido trocentos textos atrás que o troço passaria a implicar uma carga mais pessoal, como um journal, tornando-se uma extensão do que já fazia em meu diário, que agora insisto em denominar, mais corretamente, de memoir. No entanto, não passou pela minha cabeça que depois de publicados os poucos textos acadêmicos e analíticos que se encontravam então engavetados, juntamente a publicações relacionadas a produções imagéticas mais elaboradas do que as presentes neste texto, por exemplo, não haveria mas o que se publicar senão justamente estes textos fúteis e egocêntricos sobre absolutamente nada e coisa nenhuma, que em sua jocosidade e liberdade criativa me dão prazer ao escrever, mas que em nada contribuem para o “status” do troço, que se continuar nesse ritmo acabará tendo de ser referido como não mais do que um vago, vesgo e vazio, blog.
Devo lhe informar, caro leitor, que essa noção e consequente preocupação somente me acometeu, quando há pouco tempo decidi reler meu diário e descobrir os sórdidos segredos que a memória me fizera esquecer. É interessantíssimo avaliar o quanto mudei, minhas opiniões, meus sentimentos, minhas referências, minha escrita. E o quanto formei ao longo dos anos essas mesmas opiniões, sentimentos e referências que carrego comigo hoje. Diria que o Zanini que foi ainda é, mas o Zanini que é nem sempre foi... Enfim, é uma satisfação ter esses registos. Até porque, na tentativa de relembrar, intentado escrever um “capítulo” de meu diário que faça jus a nomenclatura memoir, percebi o quanto certas informações simplesmente não constam no meu arquivo mental. Eu não conseguiria descrever, por exemplo, um único dia da minha vida estudantil. Mas eu consigo lembrar de coisas muito específicas que mais ninguém lembra, fatos e ocorridos inúteis que foram meramente mencionados uma única vez, e não, não é memória selectiva, eu só sou estranho mesmo.
Uma memória estranha, aliás, me angustia desde que… bem, me lembro, a memória da “garota queimada”. Em um dos anos do fundamental, eu não sei qual, uma garota nova entrou na turma. Eu não sei seu nome e sinceramente não lembro de como ela se parecia, mas eu sei que essa garota tinha o corpo queimado do pescoço pra baixo. Nós nos divertíamos juntos, eu gostava dela e ela gostava de mim, talvez fossemos os estranhos da turma que se davam bem, eu não me lembro. A última, e aliás uma das únicas, lembranças que tenho da garota é de um momento em que andávamos juntos, rua da escola abaixo, junto de todas as outras crianças que iam embora. Eu queria muito saber quem era a garota queimada.
Talvez eu devesse ter registrado mais naquela época, hejo esquecer é um medo real. Como diria Samwell Tarly no segundo episódio da última temporada de Game of Thrones: “That's what death is, isn't it? Forgetting. Being forgotten”. E olha que registro até bastante, todos as obras, literárias audiovisuais ou de qualquer tipo que consumo, por exemplo, estão registrados em meio as minhas muitas listas, listas de coisas pra fazer, listas de ideias pra algum projeto específico, listas notas vagas que depois de um tempo o raramente lembro do que se tratavam, coisas como: “Início do Moab is my washpot”, seguido de “34 sobre o nariz” e “paramos no elton john”. Sobre este texto em específico havia anotado: “falar das férias e indicar coisas”. Eu não tenho o que falar das férias, elas acabaram, faz um tempo já, mas vou lhe indicar coisas, se me permite.
Nas férias, de acordo com os meus registos, assisti a 150 coisas, entre séries, longas e curtas-metragem de ficção ou documentário, animação ou live-action; assim como li ou ouvi 13 obras literárias de ficção ou não-ficção. Listarei e farei divagações sobre, por tanto, o melhor de tudo isso.

Bem, por onde começamos?... Stephen Fry?... Não, não, não, vamos começar por outro ídolo, justamente um que eu não tenho o que falar sobre, Orson Welles. Em agosto do ano passado (2018) a Netflix lançou a então “última” obra incompleta de Welles, The Other Side of the Wind, juntamente a um documentário They'll Love Me When I'm Dead. Eu havia ficado eufórico quando o lançamento do filme foi anunciado, com supervisionamento de Peter Bogdanovich. Extasiado quando o filme foi finalmente lançado, eu não me atrevi a assisti-lo em meio ao ano letivo, sabendo que precisaria de tempo para matutar sobre a obra. Bom, tempo se passou, mas eu não irei falar nada além de que, juntamente com F For Fake, é um dos filmes que coloca Welles nesse posto de “ídolo”.
Tentando fazer com que bons cineastas não sofram o destino que acometeu Welles, vou indicar uma produção nacional, ou melhor, regional ou local ou até mesmo institucional, um trabalho de conclusão de curso dos meus coleguinhas do cinema, que no caso eu nem conheço, igualmente não sei onde você, caro leitor, pode encontrar o filme, mas enfim, ele se chama Escarro (2018), é uma produção florianopolitana sob a orientação da Universidade do Sul de Santa Catarina e tem um final sur-pre-en-den-te.
Num mesmo estilo “sujo”, não tão nojento talvez, e uma obra que creio igualmente ter pouca atenção, indico uma série do Youtube Premium, Wayne (2019), que eu obviamente assisti por outros meios que não pagando pelo Youtube Premium, mas o primeiro dos dez episódios de meia hora é grátis. A série (não é sobre o Batimá) é uma road trip cheia de sangue de um recém formado casal de jovens perturbadas que gostam de encrenca e altas confusões. É uma série “pequena”, mas com estilo; barata, mas o valor de produção é ótimo; o elenco é formado por excelentes atores jovens ou pouco conhecidos, incluindo a Disney mirim Ciara Bravo e o iniciante músico irlandês Mark Mckenna, que tinha estreado três anos antes no jocosinho Sing Street (2016).
Sinceramente, eu já to ficando sem saco pra ficar comentando obras desse jeito vesgo, então não vou falar nada sobre Anne with an E (2017), ou Blakkklansman (2018), Roma (2018), The Favorite (2018), ou qualquer outro filme do Oscar, como Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), ou qualquer outra animação, tipo A Goofy Movie (1995) e An Extremely Goofy Movie (2000), ou Age of Sail (2018) do Google Spotlight Stories, que está disponível no Youtube e que muito comicamente meus pais disseram ser “pesado”, fico só imaginando o que eles diriam de The Cove (2009). Não, não vou falar de nada disso, pois quero pular logo para o Stephen Fry, essa figura que simplesmente não para.
Sei que já citei em alguns textos as recomendadíssimas autobiografias do Fry, assim como sua fantástica narração de Harry Potter, mas não sei se já citem sua igualmente ótima narração da obra total e completa de Sherlock Holmes, agora citada, ou os outros livros não biográficos de Fry, que no caso ainda não ouvi, mas já lhe informo, caro leitor, que eles existem e não tardo a comentar sobre eles aqui. Mas enfim, como dizia, Fry simplesmente não para, é fato. Recentemente o ouvi narrar, por exemplo, seus diários e documentações da época em que ele (biólogos e uma equipe televisiva, no caso) resgatou um urso-de-óculos nas florestas do Peru, em Rescuing the Spectacled Bear (2002). Em audiovisual, das inúmeras séries, documentários e programas nos quais Fry participa, cruzei mais recentemente com Last Chance to See (2009) uma minissérie sobre espécies em extinção co-apresentada por Mark Carwardine, o biólogo que vinte anos antes publicaria um livro com a mesma premissa juntamente a seu amigo em comum com Fry, Douglas Adams. Se você não for assistir a série, assista apenas um trecho do quinto episódio em que Mark é assediado por um Kakapo. Está disponível no Youtube.
Fora isso, não fiz muito mais nas férias (era disso que eu estava falando, não era?), fora passar a maior parte dos dias sentado em minha confortável poltrona lendo biografias, como o memoir meio autoajuda do Connor Franta, Note to Self (2017); a autobiografia encomendada do Graham Norton, The Life and Loves of a He Devil (2014), que pra mim tem um dos melhores talk shows existentes; e, já fora das férias, o primeiro memoir da sensacional Patti Smith, Just Kids (2010).
Das três a biografia da Patti é a minha favorita, não só porque ela foi genuinamente bem escrita e porque o ambiente pelo qual ela transita conversa muito mais com o meu, mas também porque eu identifiquei semelhanças, não com a minha vida per se, mas com o que me rodeia. E me identificar com algo quando consumindo uma obra, eu que raramente tenho reação qualquer que seja coisa, tende a ser o ponto alto de conexão para com a obra, o que faz todo sentido, mas entenda que eu geralmente não sinto empatia por aquilo que não me diz respeito por mais “tocante” ou “emocionante” que seja, qualquer que seja a direção desse emoção e desse toque. Não significa que eu não consiga ser empático, só que o ato de ser empático não parte de um sentimento real, mas sim de um senso de educação e, sei lá, cavalheirismo.
Enfim, Patti queria só ser artista, e hoje ela é música, poeta, desenhista, fotógrafa, escritora e outras coisas. Espero algum dia chegar aos pés da artista que ela é, uma vida dedicada a fazer arte pela arte.
Aqui entraria um desenho que protelei a fazer e que agora não estou mais com saco.
Outro dia, como muito já fiz e deixei de fazer, estava pensando o quanto procrastino e deixo de procrastinar, o quanto eu faço e deixo de fazer. Lembro da época em que essa palavra não existia, não pra mim pelo menos. Não sei quando ela passou a ser usada comumente, mas lembro quando a descobri, nos idos de 2015, quando minha principal atividade de procrastinação era assistir vlogs no youtube, creio ter até anotado algo em meu memoir como “o ingleses (vlogers) usam muito procrastination”. Fora do mundo contemporâneo que é o youtube provavelmente só voltei a ouvir procrastinação na faculdade ou, antes disso, em nichos muito específicos de minhas amizades.
Nessa época, a época em que “descobri” a procrastinação, ela era de fato um problema, caso comum, eu creio, pra maioria dos jovens da minha idade. Nós não tínhamos responsabilidades e a nossa geração era abruptamente mais caseira e antissocial do que a geração do meu pai, que não procrastinava, mas sim vadiava ou vagabundeava. A nossa geração ficava em casa, no youtube, videogame, mensageiro eletrônico ou rede social do momento, nós procrastinavamos. Meu pai só foi ouvir sobre procrastinação alguns meses atrás. Como falei, essa palavra não existia.
Hoje em dia sinto - ou muito provavelmente é só efeito do meu ambiente atual - que a procrastinação migrou quase que exclusivamente para as redes sociais, e eu incluo aqui os mensageiros eletrônicos, uma vez que eu tenho mais grupos do que contatos no meu whatsapp. Felizmente, redes sociais sempre proporcionaram o menor suprimento de entretenimento pra mim e acabei nunca um viciado como algumas pessoas que conheço, bem pelo contrário, eu odeio, genuinamente odeio, redes sociais.
Minhas procrastinações de hoje, raramente são reais “procrastinações”, ou eu penso assim ao menos. Isso não valida meu desperdício de tempo ou vagabundagem, mas não é procrastinação. Procrastinação pra mim não dura mais do que 15 ou 30 minutos diários, ao menos eu tento fazer com que não dure mais do que isso, quando deslizo meu dedão gordo pelas fotos do instagram ou do pinterest, admirando lugares que queria estar visitando ou casas nas quais queria estar morando. Ainda passo bastante tempo no youtube, é fato, mas vai ser raro você me pegar assistindo outra coisa que não um videos informacional ou científico, um ensaio ou uma análise, entrevistas, documentários, ou filmes per se. Não que assistir a estas coisas seja uma atividade “válida”, mas o que é de fato “válido”?
Um das minhas maiores reclamações a mim mesmo no período da vida em que me vejo existente, é “não estar assistindo filmes o suficiente”. É uma real satisfação ter uma desculpa para passar o dia assistindo filmes, mas eu não faço, eu passo o dia assistindo vídeos científicos sobre cetáceos, lendo e assistindo ensaios e artigos sobre como alguma coisa mudou ou vem mudando o mundo de alguma coisa; assistindo vídeos de como fazer uma ukulele baixo, ou como fazer um side car para bicicleta, ou lendo alguma biografia que alguém genuinamente relevante ou que eu simplesmente acho relevante, ou assistindo o making of ou comentários de um diretor sobre um filme, isso quando não passo meu dia ouvindo audiolivros enquanto navego pelo street view do google maps de algum lugar qualquer, como São Francisco, por exemplo, fora quando não passo o dia escrevendo textos sem rumo que ninguém lê, tal qual este. É mais válido ficar fazendo isso do que passar o dia stalkeando a vida dos outros ou consumindo e compartilhando memes? Eu não sei, eu genuinamente não sei. Pra mim é mais válido, mas pode ser só procrastinação.
Eu gosto de caminhar, andar sozinho e somente comigo mesmo pra lugar nenhum por uma ou algumas horas, somente observando ou não as coisas ao meu redor conforme eu passo por elas. Gosto de fazer isso conversando também, eu gosto de conversar, de matracatricar, mas caminhar sozinho parece mais válido, é reflexivo, é contemplativo, é conceito... “snort”... mas é fato, soa como um ato importante, ao menos pra mim, apesar de ser o momento onde eu de fato não estou fazendo absolutamente nada, e não, eu não considero um exercício, e não fico pensando sobre a vida enquanto caminho (eu faço isso no chuveiro) eu não penso em nada, eu só caminho. Seria procrastinação?
Bom, seria o ato de dormir uma espécie de procrastinação então? Particularmente prefiro a ideia de caminhar sem rumo por oito horas do que a ideia de dormir por oito horas, ainda que dormir seja trocentas vezes mais prazeroso.
Bem, eu não sei onde quero chegar com toda essa caminhada divagatória sobre… Procrastinação? Sei que comecei a divagar sobre isso porque queira expor a noção que recentemente me acometeu de que eu passo a maior parte dos meus dias, isso seriam de 16 a 20 horas por dia, ou deitado na minha cama, dormindo, ou sentado na minha poltrona, no outro lado do quarto, fazendo o que quer que seja a procrastinação que eu esteja fazendo.
Ainda bem que não sou sedentário.
Até algum dia, caro leitor.
0 notes
Photo

MÁGICAS MÓRBIDAS
Este texto era pra ser sobre uma coisa que tinha a ver com um cemitério, mas vai acabar sendo sobre outra, eu acho. O que acontece, caro leitor, é que já estou há um tempinho sem escrever, nem aqui, nem em lugar nenhum. Ideias para textos, roteiros e afins me acometeram a cachola, mas nada suficientemente consistente ou mesmo simples o bastante para que, sem muito esforço, este “troço” ganhasse mais uma publicação.
Foi então, que ouvindo Neil Gaiman falar sobre bruxas, cemitérios e halloweens em The View From The Cheap Seats, uma coleção de “não-ficções” que eu diria ser o mais próximo de um memoir de Gaiman que o meu apetite por biografias conseguirá saborear; que uma ideia com algum potencial - pensava eu, ao menos - surgiu: o meu interesse - ou curiosidade, afeição ou simpatia, interesse não é uma boa palavra - pelo Reino Unido - um péssimo nome que infelizmente me vejo obrigado a utilizar uma vez que este “interesse” não se especifica na Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte ou no esquecido País de Gales.
Comecei então a avaliar tal interesse e em conclusões rápidas confirmei que… Bem, eu iria e entrei em uma demasiada longa divagação acerca das tais conclusões sobre porquê o Reino Unido, enquanto um lugar físico e cultural, se destaca em relação a outros países da Europa - na minha concepção, é claro - mas isso entrou em conflito com meu entusiasmo pela Itália, eu acabei não concluindo nada e, sei lá por que, na primeira versão deste texto havia transcrito toda essa perda de tempo, que tomara pouco mais de uma página, mas, sensato que sou, vou lhe poupar disso, caro leitor.
Prevejo que este vai ser um daqueles textos onde, na falta de real conteúdo, me obrigo a pesquisar assuntos e desenterrar anedotas a fim de tapar buracos e encher linguiças de um texto raso sobre absolutamente nada, que independentemente e por este mesmo motivo me forçará a escrevê-lo e reescrevê-lo trocentas vezes até que algo minimamente decente - ou não - se faça existir ou tudo isso terá sido uma grande perda de tempo, o que de fato é, enfim, já nem sei mais do que falava… o Reino Unido.
Pois bem, em minha nada imparcial tentativa de descobrir de onde vinha meu interesse pela terra da rainha, ponderei sobre a hipótese de a sempre decadente Porto Alegre, minha cidade natal, ter algum dedo nisso. Afinal, diferentemente de Florianópolis - que por acaso tem mais idade - e principalmente da sua vizinha Palhoça, onde agora resido, Porto Alegre é uma cidade velha. Não velha com Londres, obviamente, Porto Alegre não tem um décimo da idade da velha capital britânica, tampouco pode ser comparada a sua irmã portuguesa, Portalegre e seus mais de setecentos anos, em todo caso Porto Alegre sempre me lembrou Londres. Talvez por causa de seus prédios baixos e decadentes, sujos e cinzas, abandonados e por que não caindo aos pedaços; talvez por causa de seus vários conjuntos habitacionais que fazem tudo parecer meio igual, assim como as típicas terrace houses britânicas; talvez seja culpa da enorme chaminé do gasômetro, que apesar de, eu creio, ser de concreto, na minha cabeça sempre foi de tijolos, o que deve, por sua vez, ser culpa do por do sol, uma vez que só lembro dela nesse período do dia, e tijolos, ao menos na minha cabeça, são sinônimo de Reino Unido. Poderia listar outras características, mas continuaria apenas a desenterrar coincidências de onde estas não se fazem de fato presentes, uma atividade na qual, confesso, tenho certo prazer.
Possuindo reais semelhanças ou não, Porto Alegre, como mencionei, sempre me lembrou Londres, ao menos uma inquestionável verdade é a de que ambas tiveram seus assassinos seriais dignos de um conto macabro de Arthur Conan Doyle, se é que ele escrevera algum. Londres tivera sua super-estrela hollywoodiana Jack, O Estripador; e Porto Alegre seu ator de peças infantis, o linguiceiro da Rua do Arvoredo. Que fique claro, o linguiceiro veio primeiro.
Foi diante desta noção que percebi que meu interesse pelo que é britânico não passava de um grande equívoco… em parte ao menos, afinal, muito provavelmente por culpa de coisas inquestionavelmente britânicas, como Harry Potters e Stephen Frys, eu me encontro com certo fascínio por boarding schools, pocket money e lojinhas curiosas típicas de alguma rua diagonal. Coisas tipicamente britânicas, aparentemente. Onde eu moro, por exemplo, existe uma lojinha diminuta e um tanto quanto atulhada, que vende apenas guloseimas e outras porcarias do gênero, todas com valores unitários, assim custando centavos e criando a ilusão de que se você pode, com “just a little amount of pocket money”, comprar uma incrível variedade de balas, jujubas e que sabe até um chocolatinho. Não por acaso a loja pertence a um nativo do País de Gales e em horários de pico fica abarrotada de estudantes de bruxaria. Mas lhe informava sobre o meu equívoco se bem me recordo, pois bem, ele consistia em justamente confundir meu interesse por coisas, digamos, “mágicas”, por coisas britânicas. E por coisas mágicas entenda: bruxas, fantasmas e monstros; e não fadas, sereias ou cogumelos coloridos. Soando de maneira muito estranha, pra não falar besta, são do meu interesse magias amaldiçoadas, não magias abençoadas.
Certa vez, uma tia, praticante de espiritismo, que faz projeção astral, de vez em quando se comunica com ents e sempre que vem ao meu quarto aconselha que eu lave minhas pedras, sentou-se na minha poltrona - que foi por mim confeccionada, isto é - a fim de provar de seus confortos e simplesmente não conseguia mais sair da mesma, afirmando que esta agarrava a pessoa que nela sentava. Minha tia me acusou de ter colocado algum feitiço na poltrona e perguntou se eu era bruxo. Você deveria ter visto o sorriso na minha cara quando eu respondi: “quem sabe...”
Em suma, pra não lhe confundir, não que clarear as coisas seja uma intenção, é do meu interesse o gótico, o sinistro e macabro, o infame. Não o terror, não necessariamente ao menos, mas sim aquilo que inevitavelmente acaba associado com magias negras, sei lá, com o que é mau. Não sou um desses fanáticos, e conheço muitos, de filmes de terror por exemplo, mas sem titubear aceitaria um convite para passear pelo cemitério. Neil Gaiman conta no mesmo já citado, The View From The Cheap Seats, que quando pequeno cultivava um fascínio e um medo de cemitérios, principalmente de um próximo de sua casa, onde, ele sabia, haviam enterrado uma bruxa. Foi a partir dessa informação que o anseio de escrever este texto me acometeu, uma vez que eu igualmente, posto esse meu interesse pelo que em termos gerais chamarei de gótico, cultivo um fascínio por cemitérios.
Seria errado afirmar que adoro cemitérios apesar de nunca ter entrado em um? Fato que é, mesmo pra mim, curioso. Já passei ao lado de muitos e muitos cemitérios. Por anos estudei do lado de um cemitério, onde às vezes idiotas eram desafiados por outros idiotas a entrar, ou sem a necessidade do desafio alguém acabava tendo que entrar lá pra recuperar a infame bola, que parece cair sempre nos lugares errados. Eu não sei, todavia, por que nunca entrei naquele cemitério. Talvez medo, não do cemitério, mas pelo ato de adentrar o mesmo - que estava sempre fechado - parecer algo errado a se fazer. Eu tendo a ser um anarquista que se sente desconfortável em quebrar as regras.
Outra desculpa pra não ter entrado em cemitérios até hoje é de que infelizmente eu nunca encontrei um cemitério sinistro de verdade. Os cemitérios brasileiros são estranhos, diferentemente dos britânicos e suas lápides de pedra cujas informações muitas vezes já estão ilegíveis, eles tendem a ser populados pelo que parecem camas de granito, sei lá. No máximo, como ocorre em alguns antigos cemitérios de capitais, possuem grandes tumbas e monumentos onde estátuas de qualidade artística exuberante ofuscam a existência do morto. Mas nenhum deles possui as características decrépitas de cemitérios góticos onde as lápides e estátuas já foram reclamadas pela natureza, como o Highgate londrino. Infelizmente, sua decadência, caso existente tende a ser por falta de cuidado.
Meu pai conta que quando tinha cinco anos foi junto com sua avó visitar o túmulo de sua irmã. Sua avó lhe desafiara a encontrar o túmulo, e sem titubear meu pai foi direto ao local onde sua irmã fora posta a repousar. Ele sempre termina de contar esse episódio dizendo: “eu nunca vou esquecer aquilo”.
Definitivamente, eu nunca encontrei - e essa é minha desculpa final para nunca ter adentrado um - cemitérios onde bruxas foram enterradas, fantasmas passeiam a luz do luar, e vampiros são guardiões de jovens “ninguéns”. Cemitérios sobre os quais Gaiman costuma escrever. Me pergunto se o interesse de Gaiman pelo gótico é comparável com o de pessoas que gostam de filmes de jump scare ou é um real entusiasmo pelo macabro. Eu gosto de cemitérios e de coisas mórbidas num geral, coisas mortas em jarros, coisas grotescas, esqueletos, etc. Eu até desenho - as vezes - coisas mórbidas, como a fotografia de um cadáver completamente dilacerado que transformei em um desenho abstrato e até hoje não contei pra quem comprou o mesmo do que se trata.
Adoro bruxas, fantasmas, vampiros, demônios, monstros, gatos pretos, e todo esse tipo de coisa “halloweenica”, como qualquer gótico que se preze, eu diria. Apesar de eu não achar lá muito bacana cortar os pulsos, usar maquiagem e uns adereços peculiares e vestir somente roupas pretas, não que eu não tenha tentado, mas não é assim tão fácil, a não ser que você seja o próprio Neil Gaiman, aí você tem carta branca pra usar preto, mas pra mim é um pouco mais complicado.
Pra começar eu não compro minhas próprias roupas, ou se compro são raríssimas as ocasiões. A maioria da roupas eu ganho e por mais que eu insista, e as pessoa muito bem sabem disso, que o preto me cai bem, “uma peça de roupa azul escura não fará mal a ninguém”, é o que penso que pensam quando me dão peças de roupa azul escuras. Tenho culpa nisso também, contudo, mal troco minhas peças de roupa e tendo mais a dar do que adquirir. Já fazem uns bons três anos desde que arranjei uma camiseta nova, por exemplo, ela é azul escuro, aliás. Mas enfim, esse não é um blog de moda, não que eu saiba sobre o que é e não que seja sobre qualquer coisa, em todo caso este texto é sobre meu entusiasmo pelo gótico, aparentemente. Ah sim, beber sangue sempre me fora aprazível, principalmente o de criaturas inocentes, só comentando.
Mas veja bem, não é porque eu tenho um interesse em “mágicas mórbidas” típicas da noite, que eu acredite nelas, por conseguinte meu medo se direciona somente, e bastante aliás, aos vivos e não aos mortos ou qualquer que seja o estado de existência de seres sobrenaturais. Como diria Alan Moore: “The one place Gods inarguably exist is in our minds where they are real beyond refute, in all their grandeur and monstrosity.”
Toda noite, quando eu voltava pra casa das minhas aulas noturnas, um poste de luz na minha rua costumava apagar sempre que eu passava por ele. Tenha noção da jocosidade da situação, principalmente nas ocasiões em que o bairro, já silencioso no início da madrugada - during the witching hour - era tomado por uma densa neblina iluminada pela lua cheia. Confesso, meu nível de medo era igualmente alto nessas ocasiões, medo que uma moto iria surgir na esquina e me assaltar.
Gaiman conta que na noite de halloween, na Inglaterra, ele, quando jovem, jamais ousaria sair de casa, pois aquela era a noite em que os mortos - e no caso dele, bruxas também, pois ele gostava de bruxas - saíam a caminhar pela escuridão. Enquanto que no país onde os estados dizem se conglomerar em comunhão, quem saem na noite são crianças a pedir doces.
Convenhamos, caro leitor, que minha confusão em associar o gótico como algo tipicamente britânico é compreensível. Alguns de meus autores favoritos que escrevem sobre o macabro e transitam por ambiente do tipo, Gaiman e Moore, são britânicos. Os grandes clássicos do terror gótico de Shelley e Stoker e por que não de Stevenson, são britânicos. Edgar Allan Poe, que tem um pequeno mundinho macabro só seu, é norte americano, mas tem um dos pés enterrado na terra da rainha e eu não acharia que ele estivesse muito fora de seu lugar passeando numa Londres imunda ao lado de Dickens. O macabro britânico tende a me parecer mais real.
Mesmo o gótico americano, com suas próprias bruxas e licantropos e espíritos e cemitérios tão decadentes quanto os britânicos, não é típico das praias da Flórida, mas sim de alguma floresta sinistra ao redor de uma casa, não por coincidência, em estilo vitoriano, isolada em algum lugar frio e cinzento no altos da Nova Inglaterra. E mesmo que o cenário seja uma praia, certamente não é uma praia de águas translúcidas no Caribe, mas sim uma praia inóspita, de um mar gélido que urra ao violento uivar dos ventos, que trazem densas neblinas precedentes de alguma tempestade. Meu tipo favorito de praia. Sim, eu gosto de me banhar nas calmas águas das praias dos trópicos, mas uma melancolia frente ao mar me é igualmente interessante.
Em Florianópolis, e aqui parece caber melhor Desterro, minha praia favorita é a praia do Moçambique. Em parte porque era necessário apenas caminhar por algumas trilhas da minha casa pra chegar nela, em parte porque mesmo no verão o trânsito de pessoas é pequeno, no inverno então, é nulo, tirando surfistas que se aventuram nas violentas ondas que cavam enormes buracos na orla. Eu costumava ir lá pra admirar um mar e um céu cinza, pra sentir frio e pra me divertir com o sentimento de desesperança que me acometia.
Enfim, sobre o que era esse texto mesmo? Acho que era sobre o gótico, não? Aquele tão bem captado por Goya em seus Caprichos e suas Pinturas Negras. Ah, sim! Eu me recordo. Este era pra ser um texto sobre The Graveyard Book, do Gaiman, mas acho que vai ter que ficar pra uma outra ocasião.
Até algum dia, caro leitor.
0 notes
Text
QUALQUER COISA SOBRE QUALQUER COISA, 4º FASC.
Olá pela quarta e última vez, caro leitor. Última no que diz respeito ao “qualquer coisa sobre qualquer coisa”, não que isso signifique igualmente que eu não irei vir a publicar qualquer coisa sobre qualquer coisa neste troço, somente encerrarei essa “série”, de no caso quatro textos, o que por sua vez significa apenas que eu deixarei de usar este título, “qualquer coisa sobre qualquer coisa”, quando for escrever textos sobre qualquer coisa, tendo que a partir de agora nomeá-los algo como “algo sobre algo”, ou algo do gênero. Enfim, como tem passado desde o último “qualquer coisa sobre qualquer coisa”, caro leitor?
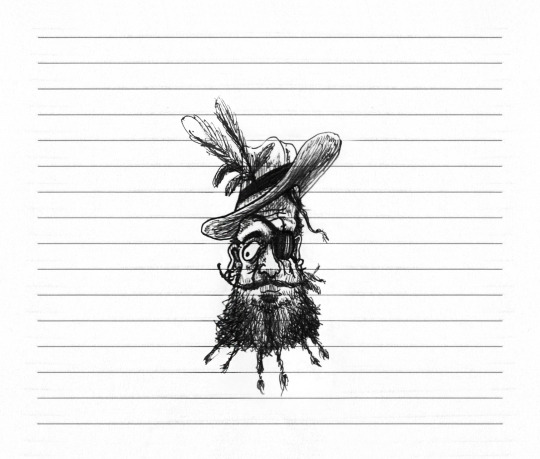
Eu - como se você tivesse interesse em saber - passei como costumo passar a maior parte da minha vida, no meu quarto. As vezes na cama, as vezes na escrivania, as vezes - como agora - na minha confortabilíssima poltrona. Nem sempre foi assim, posto que eu nem sempre vivi na mesma casa, consequentemente no mesmo quarto. Hoje, tirando algumas coisas que ainda pretendo adicionar, meu quarto é em algum grau ideal. Pequeno, mas não minusculo, ele tem uma cama, uma estante, uma escrivaninha, um criado mudo, uma poltrona, uma antiga máquina de costura, um antigo aparelho de som, um cabideiro com um monte de coisa pendurada, quatro paredes com um monte de coisa pendurada e um monte ainda maior de bugigangas e cacarecos que eu coleciono - acúmulo, e na falta de espaço estou quase os pendurando - como se fosse um pequeno museu, incluindo uma escova de engraxate, uma tesoura quebrada e um crânio de cachorro que eu encontrei decompondo-se na rua. Jenilson eu o chamo, mas essa é uma outra história.
Porém, como mencionei, meu quarto nem sempre foi assim, o meu primeiro quarto eu nem sequer sei se de fato o possui, uma vez que muito pequeno provavelmente dormia com meus pais, num berço ao lado da cama deles. Já do meu segundo quarto em diante lembro-me muito bem, era menor, eu creio, do que possuo agora. Primeiramente com a janela dando pra rua, como é normal fazer qualquer janela, passou a dar para dentro da cozinha que meu pai construíra numa pequena casinha, que eventualmente vendemos, no periférico à capital município de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu adorava aquele quarto, pois além de poder entrar e sair pela porta, que dava na sala, eu podia entrar e sair pela janela, que dava cozinha. Igualmente fazia meu gato, Tom, um dos muitos animais de estimação que ocasionalmente ocuparam aquela casa, incluindo meu primeiro amigo não humano, Saddam, um Dog Alemão com pintas de Dálmata, cujas costas eu montava quando muito pequeno, e cujo tamanho o permitia assistir televisão conosco debruçado sobre a janela da sala.
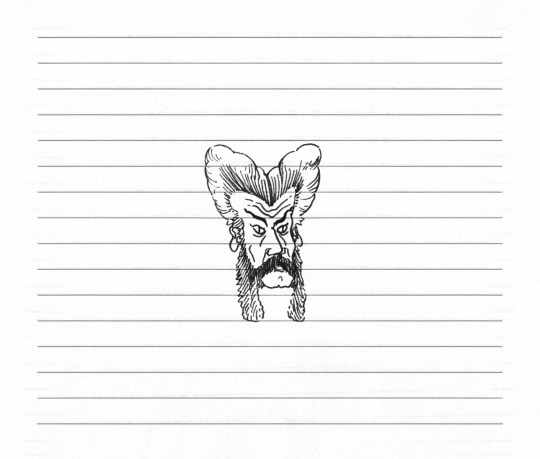
O próximo quarto seria na casa da minha avó, na capital, Porto Alegre. Bom, na verdade ele não era exatamente na casa da minha avó, uma vez que ele ficava na casa da minha tia avó, que por sua vez ficava no mesmo terreno. Na verdade ele também não era meu, uma vez que eu o compartilhava com os meus pais, dormindo numa espécie de beliche ingembrado sobre uma cama de casal. Até hoje eu me questiono como eu nunca notara meus pais transando logo abaixo. Ainda bem.
Por um breve período eu compartilharia um outro quarto apenas com minha mãe, quando eu e ela moramos no apartamento de meus avós antes de nos mudarmos para Florianópolis, onde eu novamente receberia um quarto só meu, numa pequena casa alugada no norte da ínsula capital. Anos depois, no mesmo bairro eu receberia um quarto bem maior, no segundo andar de uma casa que estávamos, literalmente, construindo. Minto quando digo um quarto, já que sim essa era a quantia de aposentos ao qual eu tinha direito, mas representava apenas um terço do número de quartos disponíveis para troca, o que eu meus pais fizemos algumas vezes. Durante um período de transição entre essas duas casas, habitei um realmente pequeno quarto, na casa da minha avó, que então também havia se mudado para Florianópolis.
Tive também um quarto com sacada no último - terceiro - andar de um prédio onde morei por um ano, antes de me mudar por fim para este, que até o momento é meu mais distinto, característico, pessoal e preferido quarto. O apartamento do qual ele faz parte todavia, não é a minha moradia favorita. Nesta posição tem lugar a já não mais existente casa de minha avó, em Porto Alegre, mais precisamente no bairro São Sebastião, na zona norte da capital. Ainda que tenham havido anos da minha vida em que não morei propriamente naquela casa, eu sempre - seja no dia a dia de ir de Gravataí a Porto Alegre, seja nos sagrados domingos de churrasco em família na enorme garagem - estava lá.

A casa da minha avó, juntamente a citada casa da minha tia avó, que funcionava em algum grau como uma extensão da casa principal, ficava num enorme terreno, na esquina da Rua Guará, com a Avenida Assis Chateaubriand. E lá ela ficou por quarenta anos, nascendo junto com meu pai e deixando de existir quando ele - eu, minha vó e todo mundo num geral - mudou-se de vez. A casa fora comprada pelo dono de um mercadinho na esquina contrária daquele trecho da Rua Guará, sendo construído em seu lugar um pequeno prédio de dois andares, cujo térreo sedia justamente o mercadinho. Quase nada no bairro, e principalmente onde ficava a casa da minha avó, mudou desde que eu saíra de lá, há mais de uma década, ou desde muito antes disso. É bastante irônico que justamente uma de suas mais distintas casas, ainda que relativamente simples em design, não veio a perdurar a batalha do tempo.
Eu adorava aquela casa e aquele bairro, um apego puramente emocional, nada realmente lógico, como tendem a ser meus apegos a lugares hoje dia. Meus avós maternos moravam a menos de quinhentos metros daquela casa, meus tios e prima com quem melhor me relacionava na infância a não mais do que oitocentos, distância que igualmente compreendia o colégio onde eu estudava com amigos que apesar de não terem nenhum real parentesco comigo, assim como o meu pai não tem com o pai deles, são de sangue. Eles moravam no antigo final da Rua Guará, a menos de duzentos metros da casa. A exatamente um quilômetro da casa ficava o lugar onde por anos eu me empanturrei de batatas fritas do Mcdonald's, pagas com os tickets refeição da minha mãe, e onde eu por outros tantos anos, com apenas duas opções de sala, sem lugar marcado, com possibilidade de sentar na escada caso a sessão lotasse, fui ao cinema. A cada no máximo trezentos metros caminhando por aquele bairro, eu tropeçaria numa praça, onde me divertia horrores em meio às árvores.
Eu adorava aquela casa e aquele bairro, e ainda que hoje tudo soe muito distante, sinto que de fato existe uma conexão cósmica àquele lugar, arraigada tão profundamente à um puro entusiasmo e simpatia por ele, quanto as raízes da velha mangueira que reinava entre as árvores na casa da avó, e que eu incessantemente insistia em subir, dia afora e noite adentro.
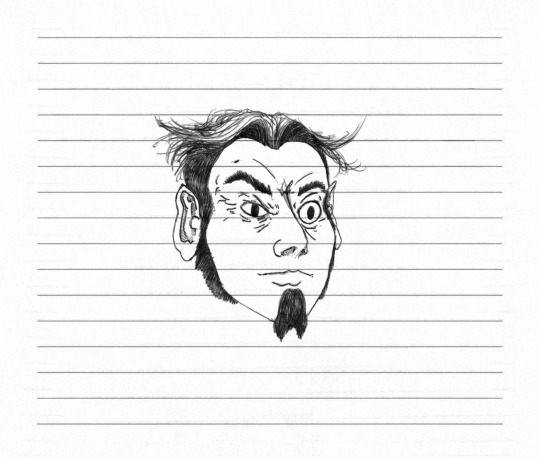
Conversando com uma amiga sobre patriotismos e coisas do gênero eu expressei que o máximo de território que cubro nestes méritos se limita ao bairro, e que portanto sou em algum grau bairrista, e só. Que não acho que caiba a mim se importar, lembrando que já expressei possuir um “anseio por não me ver afetado pelos contextos ao meu redor”, com o município que fica a duzentos quilômetros daqui, tampouco com o estado vizinho e muito menos com um lugar no outro lado do país, que eu só acredito existir porque me disseram. Não me soa pertinente eu me importar nem mesmo com a cidade onde vivo, uma vez que de fato eu trânsito por não mais do que a bolha que chamo de bairro, e tendo a visitar mais a cidade vizinha do que o centro da minha própria. Me falta um senso de identificação para com ambientes muito maiores do que um bairro, mas é também evidente um excesso de egocentrismo e uma falta de empatia da minha parte.
Perceba, eu relativamente desacredito na noção de nação, principalmente tomando essa como uma delimitação político-territorial. Se pretende-se abranger tão grande diversidade de realidades quanto as existentes em um país sob um mesmo rótulo, me faço bem mais entusiasta da cafona afirmação de que sou um cidadão do mundo que, igual a todos os outros comigo presos a este planeta, conhece nem sequer um por cento deste. Ou, mais fidedigno a minha realidade, sou um cidadão do bairro que habito e que, diferente de muitos vizinhos, o conhece, e sabe desenhá-lo sem muita margem de erro, como a palma sua mão.

Alan Moore, o Magus, em muito trabalha com essa ideia de enraizar-se a um local, no caso sua cidade natal e eterna moradia, Northampton, no centro da Inglaterra. Moore viajou pouco para fora da Inglaterra e jamais variou seu local de moradia muito mais do que diferentes partes de Northampton. Além de alguns trabalhos menores sobre o local, incluindo Don't Let Me Die In Black and White, um curta documental de 1993, Moore escreveu dois livros - que eu ainda anseio por ler - Voice of the Fire (1996) e Jerusalem (2016), “sobre” o local. “The more I looked at Northampton, the more it seemed that Northampton actually was the centre of the universe and that everything of any importance had originated from this point.”, disse uma vez Moore em ocasião não identificada pelo livro de onde retirei tal citação, a biografia de Moore por Lance Parkin, Magic Words: The Extraordinary Life of Alan Moore (2013).
Moore pratica a psicogeografia, definida por Lance Parkin no mesmo livro como: “a deep exploration of the landscape and history of a specific location”, ou como Parkin afirma que Moore define: “a mean of divining the meaning of the streets in which we live and pass our lives (and thus our own meaning, as inhabitants of those streets)”. Ele exibe seus exercícios de psicogeografia também em minha obra favorita de sua autoria, From Hell (1989 - 1996), onde ele explora ao invés de Northampton a, eu diria até, demasiadamente explorada, mas sempre fascinante, Londres. Infelizmente, ainda que uma ótima biografia, Magic Words: The Extraordinary Life of Alan Moore, que em grande parte narra a carreira do mesmo na indústria da nona arte mais do que explora sua vida íntima - não que isso já não esteja exposto em seus próprios livros - ou analisa suas obras, pouquíssimo discorre sobre From Hell.

Outro quadrinista que produziu a partir da sua exploração do ambiente, e o fez de maneira bem distinta de Moore, foi Will Eisner, com exemplos como Nova York, uma coleção de vinhetas urbanas, e O Edifício, que discorre seus enredos ao redor de um mesmo edifício. Ambas narrativas foram compiladas, junto a outras, em NOVA YORK: A Vida na Grande Cidade, e diferente do que faz Moore não são localizadas, são estereótipos análogos a justamente “a vida na grande cidade” e não especificamente Nova York, ainda que esta esteja claramente ilustrada.
Mas permita-me, caro leitor, antes de dar continuidade ao assunto, citar e jogar no ar minhas impressões sobre outro autor de longas madeixas desordenadas e por vezes também uma volumosa barba tal qual a do Magus, o poeta, roteirista, músico e meu professor - tão insano quanto, mas não aquele citado no primeiro “qualquer coisa” - Demétrio Panarotto, que eu creio, voluntariamente ou não, também utiliza-se da psicogeografia em suas criações. Para começar, suas publicações vêm assinadas como “Desterro”, o mil vezes mais interessante nome que se deu e que se dá para Florianópolis.

Confesso que tenho um tremendo interesse em fazer o mesmo que Moore e estudar profundamente o ambiente geográfico no qual me encontro por influência não só do Magus e de meu professor, como do meu entusiasmo por em arquitetura, urbanismo, e certos ramos da geografia. O problema é que não sinto real conexão, ainda que haja real simpatia, com o ambiente em que me encontro hoje como sentia pelo meu velho bairro em Porto Alegre. Forcei-me a uma simpatia pela enredo local, porém nada aqui carrega a carga narrativa que um ambiente completamente urbano como Porto Alegre carrega, e quanto a história propriamente dita, diferente de Northampton, a dois mil anos atrás não havia nada aqui, nem sequer o registro dessa não existência. Especificamente no meu bairro essa existência, como a minha, não se dá até 1998 e, ainda em pleno desenvolvimento, posso dizer que não se dá completamente nem mesmo hoje. Talvez se eu ficar aqui por quarenta anos, eventualmente possa vir a escrever uma espécie de Jerusalem - só que não - e de modo algum pretendo ficar tanto tempo aqui, apesar de que me soa razoável ter toda essa paciência.
Eu, modéstia à parte, sou muito paciente, em demasiado muitas vezes, por este ritmo lento me cai bem. Mas em muitas outras ocasiões tenho pressa, nas minhas vivências diárias principalmente. Não tenho paciência pra gente prepotente, gente ostensiva, gente demasiado sentimental ou dramática, não tenho paciência pra fingimento, não tenho paciência pra gente bêbada, não tenho paciência pra quem fica tentando criar uma imagem falsa de si, não tenho paciência pra gente hipócrita, nem muvuca, nem sol, nem chuva, não tenho paciência pra quem não tem paciência.
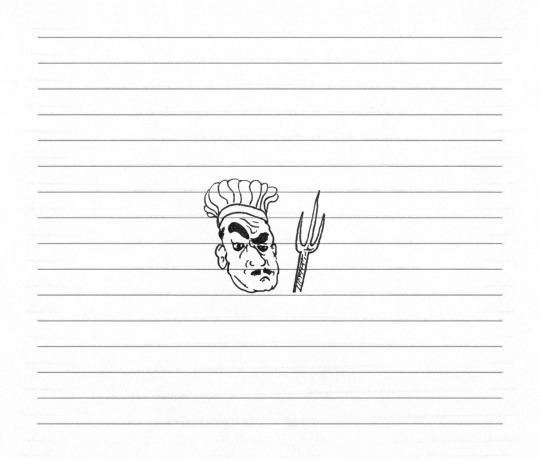
Eu não tenho paciência pra coisas que me irritam, como eu creio que ninguém tenha, mas eu tenho paciência pro tempo, pra esperar, apesar de ser fato que não tenho paciência pra ficar parado. Me dê algo pra fazer, um livro pra ler, um texto pra escrever, me dê um filme pra assistir, algo pra construir, me dê algo pra desenhar, alguma coisa pra projetar, no mínimo me faça caminhar ou tenha assunto e não pararemos de falar, mas não me deixe parado fazendo nada. Esse é o meu paradoxo, eu preciso manter essa ilusão einsteiniana de que o tempo anda, de que ele passa, mas durante toda essa passagem meu constante anseio é que ele pare e eu tenha mais tempo. Eu opero nesses dois ritmos, frenético em pequena escala e letárgico em grande escala. Sou ambos o ponteiro dos minutos e o das horas do mesmo relógio, andando em ritmos diferentes, mas sempre andando.
Já perdi muito tempo pensando sobre o tempo e igualmente a todos e qualquer um, creio, eu não consegui ou consigo compreendê-lo. Me é reconfortante a ideia de que o tempo flui, ainda seja uma ilusão, de que ele não meramente “é”. Meu intelecto simplesmente não consegue idealizar essa noção, seja a noção de que ele é algo específico, como um constante presente, seja assustadora noção de que ele é um todo, uma onipresença de presente, passado e futuro. A noção de onipresença, inclusive, me é muito estranha. Moore escrevera sobre isso em Watchmen, Dr. Manhattan é uma ameba azul conceitual resultado dessa onipresença, já eu não consigo aguentar a noção de uma a onipresença apenas temporal da minha vida, que dirá do cosmos.

A viagem limitada porém, já é uma noção que me agrada muito mais, e me agrada bastante inclusive. Em parte por influência do meu pai, entusiasta de qualquer coisa “viagem no tempo”. O nosso amor mútuo por De Volta Para o Futuro (1985) vem daí, mas ele igualmente já assistiu quarenta vezes as duas versões de A Máquina do Tempo, a de 1960 e a de 2002; adora ver o Super-Homem voltando o tempo ao inverter a rotação da terra em Superman, de 1978; ou o romance temporal em outro filme com Christopher Reeve, Em Algum Lugar do Passado (1980); ele adora até Adam Sandler indo e voltando o filme da sua vida em Click (2006); até uma comunicação intertemporal tá valendo, como a de pai e filho via rádio amador em Alta Frequência (2000); ou ainda uma simples previsão do futuro, mesmo que seja só com um dia de distância e venha impressa num jornal como em Early Edition (1996–2000); mas por fim, a mera viagem da consciência, como a de Contratempos (1989–1993), já lhe bastaria, mesmo que ele acordasse num corpo estranho.
A viagem apenas da consciência me é até mais interessante do que uma viagem física, talvez por ela sugerir a simulação de uma viagem, posto sua natureza mais passiva, como em um sonho. Igualmente ela flerta justamente com essa noção estranha de onipresença temporal, um tempo percebido, não necessariamente vivido, mas que nem por isso deixa de ser vivenciado, como se o tempo fosse de fato uma quarta dimensão e não a ilusão experienciada na terceira. Algumas partes de Interstellar (2014) representam isso, assim como - e principalmente - o fantástico A Ghost Story (2017); ou como na sequência final de - obviamente - From Hell, onde William Gull tem uma “revelação”.
Trazendo esse tempo a um espaço, talvez a melhor manifestação seja de fato A Ghost Story e sua exploração das várias existências de um mesmo lugar. Nas narrativas gráficas todavia isso cabe ao inventivo e aparentemente - já que eu só tive o deleite do vislumbre e não da leitura - fantástico Aqui (Here), de Richard McGuire, que teve uma versão preliminar, curta e simples - que no caso eu li - publicada originalmente em 1989 e uma versão expandida, expansiva e nada simples, publicada em 2014.
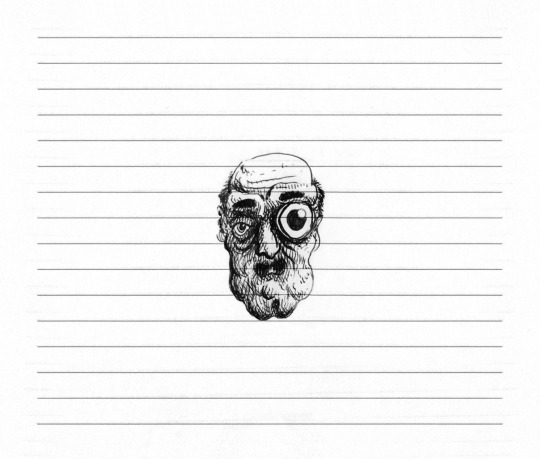
Me perdendo do assunto, mas tentando mantê-lo nessa notas de existencialismo com quais tais obras trabalham, darei a você, caro leitor, uma dica de entretenimento pós leitura deste mesmo texto, que me foi primeiramente apresentada por uma amiga. Assista Don't Hug Me I'm Scared (2011-2016), uma minissérie de seis episódios disponíveis integralmente na rede interconectada, da qual um dos personagens, Red Guy, é uma ótima personificação fantochista da figura de Moore. O segundo episódio da série é justamente sobre o “tempo”.
Ainda nesse existencialismo pessimistamente sinistro, mas em roupagens menos psicodélicas e altamente mais científicas, sugiro você assista, caro leitor, episódios do Kurzgesagt. Eles maravilhosamente produzem uma animação por mês. E já que estou sugerindo coisas pra você assistir vou continuar, mas não pretendo gastar todas as minhas dicas neste texto ou ficarei repetitivo quando citá-las em outros textos. Enfim, um outro ótimo canal de animação e conhecimento e com uma narração igualmente peculiar é o TED-Ed, a divisão educacional do famosa plataforma de palestra e conferências, TED. Coincidentemente, o último vídeo publicado até o momento em que escrevo este texto, é justamente sobre a história dos gatos ou “The history of the world according to cats”, um dos tópicos sobre os quais escrevi naquele famigerado texto nunca publicado sobre Um Sonho de Mil Gatos que citei no último “qualquer coisa sobre qualquer coisa”. Para recomendar mais alguns, mas apenas alguns, sobre outro assunto recorrente aqui no “troço”, sugiro que assista Why do whales sing? e How smart are dolphins?, mas existem outros vídeos tão interessantes quanto sobre assuntos dos mais diversos.
Falando em cetáceos, permita-me sugerir também Inside the Whale Warehouse!, do ótimo The Brain Scoop, um dos muitos e eu creio um dos melhores canais de museu internet afora. Cetáceos, quando não golfinhos, orcas, cachalotes ou jubartes, tendem a - aparentemente, ao menos - fugir dos focos de interesse de produtores audiovisuais, sendo ao meu conhecimento inexistente um ótimo documentário sobre baleias num geral, por exemplo, e existe uma cacetada de espécies - como você pode conferir nessa lista da Whaleopedia ou na curiosamente mais informativa lista da Wikipedia - a maioria completamente desconhecida até mesmo ao entusiasta de zoologia. Tamanha foi minha alegre surpresa quando vi publicado este vídeo do Brain Scoop, que, ainda que não completamente, e certamente não atingindo todo o potencial que o contexto lhe providenciava, aborda uma boa variedade de características, por vezes estranhas, dessas várias espécies de cetáceo e acaba por ser uma boa introdução ao entusiasta da cetologia.
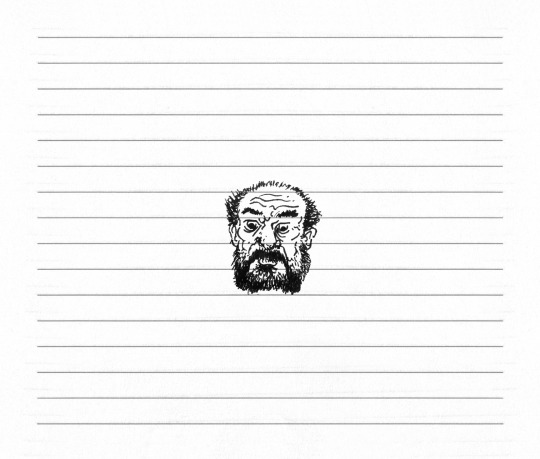
E nessa nota eu lhe deixo, caro leitor, esperando que este tenha sido um bom último texto ao “qualquer coisa sobre qualquer coisa”, mesmo que - e você nem saberia isso se eu não lhe suprisse com tal informação - nem todos rabiscos que fiz tenham sido publicados, permanecendo alguns, por tempo indeterminado, perdidos no espaço pseudo-geográfico do meu disco rígido. Pretendia originalmente escrever oito textos, mas percebi que me faltariam-me assuntos que, veja só você, harmonizassem com o resto dos assuntos abordados numa série de textos cujo título sugere uma noção de infinito, assim como o oito, meu número favorito, que deitado representa justamente isso. Mas creio que tenha abordado um infinito suficiente de “memoirs” da minha persona para esta série, pois ainda que seja a mais pura verdade que “we are infinite”, “eventually everyone runs out of time”.
Até algum dia, caro leitor.
0 notes
Text
QUALQUER COISA SOBRE QUALQUER COISA, 3º CAP.
Olá, caro leitor, seja bem vindo a este terceiro capítulo de “qualquer coisa sobre qualquer coisa”. Como tem passado? Bom, eu estive recentemente ocupado limpando e organizando os arquivos do disco rígido do meu computador pessoal e veja só, em meio a essa tão importante função me deparo com uma série de críticas e comentários fílmicos que nunca terminei de escrever.
Se você bem se lembra - principalmente se acompanha esse “troço” há alguns anos ou caso tenha se dado ao trabalho de ler publicações antigas - meu primeiro intento para com este era dar início a minha carreira de crítico de internet, e por um bom período eu realmente acreditei que isso pudesse ser “algo”. Eventualmente eu desisti de tal nobre carreira como opinador profissional, mas não deixo de ter interesses depositados nos ramos da análise artística... e de qualquer outra coisa. Como diria Salem, o gato: “Dogs guard, cats watch and judge”.

De fato, meus primeiros textos - e alguns dos últimos, devo admitir - não eram muito mais do que julgamentos, e dos bem frívolos, do tipo: “personagem tal foi mal desenvolvido”, uma frase que por si só é tão escrota quanto sua falsa suposição de que eu tivesse qualquer conhecimento sobre desenvolvimento de personagem. Pior que isso só afirmações como: “na época em que foi lançada, tal obra gerou discussão e mudou a arte”, uma informação que, sinceramente, eu não tenho outra hipótese para sua origem, senão do meu ânus. É por essa e outras que não leio meus textos antigos, principalmente coisas vigorosamente pretensiosas como críticas, e recomendo que você faça o mesmo, caro leitor.
Um texto que lhe incentivo a ler, todavia, justamente em prol de sua demasiada carga de tosquice, é minha primeira crítica, “Godzilla (2014)”. Um texto que em meio a anedotas, erros e maus usos do português, e, obviamente, afirmações baseadas em porra nenhuma, carrega a frase: “Mas tirando todos os problemas do filme, não espera ai, assim só sobra o Godzilla... É esqueçam o filme o que interessa ali é Gojira que não aparece muito, mas quando aparece se segura na cadeira, por que o bichano é o verdadeiro astro desse filme.”
Minhas críticas só ganharam alguma carga de decência, e olhe lá, quando passei - como todo indivíduo sensato - a pesquisar o assunto sobre o qual iria escrever. Desse processo surgiram textos como “Do Inferno”, “Princesa Mononoke e a Essência de Miyazaki ao Lentamente Desenhar Detalhes que Compõem um Cenário Natural”, “Pom Poko”, “F For Fake e a Falsidade Fílmica de (F)Orson (F)Welles” e até mesmo “A Estranha Geléia que faz Be-bop”. Posso afirmar que redigir todos estes textos tomou muito do meu tempo, por conseguinte qualquer pesquisa de similar proporção tomaria tanto do meu tempo quanto, um tempo que me vejo cada vez menos tendo, e é por isso, caro leitor, que não tenho ideia de quando a próxima crítica, ou análise, como prefiro denominá-las agora, será publicada, e é por isso que você provavelmente não verá publicados nenhum dos trinta e cinco esboços críticos que encontrei perdidos em meu disco rígido.

A grande maioria desses esboços são de fato esboços, não mais do que meia página de impressões gerais sobre alguns álbuns franco-belgas e outros italianos; sobre filmes do Guillermo del Toro, incluindo O Labirinto do Fauno (2006) e os dois Hellboy (2004, 2008); filmes do Edgar Wright, mas na época Baby Driver (2017) ainda não havia sido lançado; diferente de Logan (2017), do mesmo ano, mas que já havia sido lançado; sobre What We Do in the Shadows (2014), jocoso filme de Taika Waititi, que viria depois a trabalhar para Marvel; sobre Louie (2010-2015), série pseudo-autobiográfica do Louis C.K.; sobre Sherlock (2010– ), a minissérie, nada biográfica da BBC; entre outras coisas.
Algumas delas geraram textos mais longos, como: um pouco mais de uma página sobre O Serviço de Entregas da Kiki (Majo no Takkyūbin, 1989); 2521 palavras sobre todas as obras em animação de Star Wars; 3492 palavras sobre Ghost in the Shell, em suas versões cinematográficas e literárias; e, para o desespero de alguns leitores, 6589 palavras sobre Sandman, em específico sua 18ª edição, publicada em agosto de 1990, A Dream Of a Thousand Cats (Um Sonho de Mil Gatos), incluindo, creio que em mais da metade do texto, dissertações sobre a mitologia e folclore dos gratos ao redor do mundo. Bom, ao menos à este texto é provável que eu dê continuidade. Algum dia.

Ah, sim. Também tenho anotações sobre todos os oito Harry Potter (2001-2011), que eu creio ter re-assistido em maratona na época. Sobre o último filme escrevi apenas: “Final piegas, conclusões rápidas”. Não sou um fã ávido da saga, como se pode perceber, mas me faço muito entusiasta do peculiar mundo criado J. K. Rowling, principalmente depois de ter ouvido aos livros na garbosa voz e magnífica interpretação de Stephen Fry. E sim, entrei no assunto apenas para mais uma vez mencionar essa figura.
Após ter ouvido o texto original da voz de Fry, contudo, algo curioso me ocorreu, eu não mais tenho memória de Harry Potter enquanto filme, sua narrativa se dá na minha cabeça enquanto aquilo que vem da literatura. Minha referência visual, todavia, fora completamente construída pelos filmes, por tanto, na minha memória, é Emma Watson e seus amiguinhos que vivem as aventuras tal qual melhor compostas nos livros. Modéstia à parte, eu tenho o melhor dos dois mundos.
Mas essa é uma afirmação completamente baseada e limitada a minha opinião, sinta-se a vontade para preferir um ou o outro ou odiar os dois. Eu não mais tenho a audácia de afirmar coisas baseadas puramente em meus julgamentos como tendia a fazer em minhas críticas. Aliás, raramente afirmo qualquer coisa hoje em dia, e prefiro que nada se afirme sobre mim.

Falando em julgamentos ao nível de “final piegas, conclusões rápidas”, e toda esse lero-lero sobre críticas e filmes de gosto duvidoso, creio que caiba aqui uma menção a Riverdale (2017– ), o que certa vez provocou justamente impiedosos olhares de julgamento e afirmações como: “o roteiro dessa série é uma ofensa. Você é culto Zanini, você não pode assistir essas coisas”, mal sabia essa pessoa que diante de tal provocação eu não poderia fazer outra coisa senão vir aqui defender tamanha porcaria. Como citei no último qualquer coisa: “Não gosto de concordar com as pessoas”.
Riverdale é uma adaptação adolescentemente extra-dramática de uma roupagem atual do se publicava na Archie Comics na segunda metade do século passado, eu acho. A primeira temporada, deve-se admitir, é uma tremenda porcaria, pra falar a verdade eu sequer lembro qual era a trama. Da segunda temporada em diante, contudo, a série parece ter entendido que o melhor não é tentar ser séria em meio a porcaria, mas sim abraçar a porcaria, tomando consciência de si mesma e abrindo espaço ao total e completo exagero. Antes de tentar encontrar algum positivismo nisso, devo mencionar a provável única coisa realmente defensável em Riverdale, a cinematografia, majoritariamente assinada por Brendan Uegama, que também majoritariamente assinara a cinematografia de Chilling Adventures of Sabrina (2018– ), a qual eu particularmente acho agradabilíssima. Enfim, como não sou especialista em cinematografia pra divagar muito sobre - no máximo tenho somente algum embasamento para poder julgar se é boa ou ruim - sigamos com a defesa da porcaria.
Riverdale é estereotipicamente clichê, num nível melodramático do absurdo. Sua audácia é tamanha que após jogar essa merda no ventilador do quarto, ela o fecha e esquece que ele existe. Me recuso a admitir que isso não é intencional, tem de ser, tamanho são os absurdos da trama - carregada nas intrigas em meio a ameaças de um serial killer, uma briga de gangues, um grande esquema de tráfico de drogas, e eventualmente um jogo maldito que faz os jovens que o jogam se matarem em nome do Gargoyle King - em grande parte resolvidos com revelações Deus Ex Machina tão grotescas quanto na mais absurda peça grega, coisas como trazer um personagem que morrera de volta, ou melhor, sugerir isso quando na verdade não passa de seu irmão gêmeo até então desconhecido.
Riverdale é genial porque abraça seu exagero, é autoconsciente de sua tosquice e da eminente burrice de seus personagens. É genial porque depois de ter jogado a merda no ventilador, resolveu chamar os amigos para fazerem o mesmo... “Sorry, i got caught up in the moment”, diria Salem.

Riverdale talvez só não seja tão genial quanto outra porcaria pela qual me apeguei anos atrás, Nazo no Kanojo X (2012), um anime sobre - no total estilo anime de ser - um jovem que se apaixona pela estranha garota recém transferida de outra escola, que por acaso carrega uma tesoura na calcinha. Os simbolismos fetichistas tipicamente associados à mente japonesa se dão já na abertura e vertem para um enredo “sexualmente tenso” onde os personagens não se beijam, mas compartilham saliva, pra não dizer babá. É pertinente mencionar que sempre que a protagonista feminina, Mikoto Urabe, coloca seu dedo babado na boca do protagonista masculino, Akira Tsubaki, o nariz deste começa a sangrar, exageradamente, é claro, afinal é um animê. Nessa seara de bizarrices poderia muito bem falar de Boku no Pico (2006-2008), sobre o qual prometo uma crítica fazem anos, mas lhe pouparei o desgosto, caro leitor.
A maneira como as pessoas julgam, ou melhor, subjugam todas essas obras - e qualquer outra coisa - sem se tocar de que elas mesmas defendem com unhas e dentes obras igualmente ruins, me é muito curioso. Sim, igualmente faço isso e faço muito - “gatos julgam” - mas creio que no meu anseio por não me ver afetado pelos contextos ao meu redor, acabo por realmente não ligar para quaisquer estranhos ou ruins que sejam os interesses de outrem, desde que o outrem tenha noção de quão ruim ou estranho é este interesse. Parafraseando Salem diante deste aparente desabafo, “Why am I finding hard to summon sympathy?”
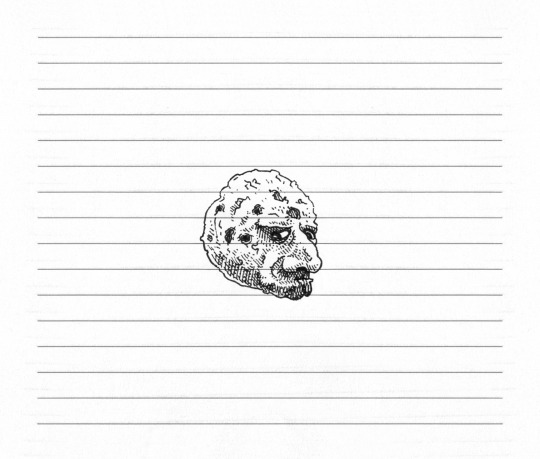
Um exemplo que me vem agora e com o qual eu infelizmente compactuava anos atrás, é o de pensar que as animações mais infantilóides de algum estúdio como a Disney, não tem a mesma carga de valor que as animações “inteligentes” - ou qualquer outra característica favorável - do Studio Ghibli. É fato que filmes como Princesa Mononoke (Mononoke Hime, 1997), Túmulo dos Vagalumes (Hotaru no Haka, 1988), Vidas ao Vento (Kaze Tachinu, 2013) ou O Conto da Princesa Kaguya (Kaguya-hime no Monogatari, 2013), não são filmes infantiloides em qualquer grau, mas filmes como Totoro (Tonari no Totoro, 1988), Ponyo (Gake no ue no Ponyo, 2008) ou Pom Poko (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko, 1994) são, juntamente com outros tantos.
Sem falar da existência de melodramas dignos de novela como Sussurros do Coração (Mimi wo sumaseba, 1995) ou Da Colina Kokuriko (Kokuriko-zaka Kara, 2011), filmes que eu - em função de bicicletas, colinas e pessoas que imprimem jornais e fazem violinos - aprecio em relativa quantidade, o que também já provocou olhares de julgamento, porém mais sensatos dos que me acometeram quando mencionei Riverdale. Não me recordo bem se é o caso em Sussurros do Coração, mas o ponto é que Kokuriko e sua trama romance/incesto/des-incesto/romance é consciente do excesso de melodrama imbuído em si, como evidenciado pelos próprios personagens: “é como um melodrama barato”.
Não é porque uma cafonice como essa me agrada, todavia, que deve-se assumir que eu venha a gostar de qualquer cafonice. Não deve-se, aliás, assumir qualquer coisa sobre minha persona, uma vez que é muito provável que eu venha a discordar de quaisquer expectativas voluntariamente, posto que diante de tal contexto detesto ser julgado, ainda que, como mencionei, “anseio por não me ver afetado pelos contextos ao meu redor”. E nessa nota, pela última vez invoco Salem, o gato: “I urge you to accept me as your ruler”.
Até algum dia, caro leitor.
0 notes
Text
QUALQUER COISA SOBRE QUALQUER COISA, 2º VOL.
Olá caro leitor. Como tem passado desde o último “qualquer coisa sobre qualquer coisa”? Não precisa responder. Mas sinta-se em casa, sente onde quiser, pega um chá, um café talvez. Se você recorda, eu havia mencionado no último “qualquer coisa” que temos temos muito o que conversar - ou eu tenho muito o que divagar sobre - ou seja, enxurrada de palavrinhas garbosas e pretensiosas pela frente.

Pois então… fale-me mais sobre você… quer saber, não, deixa que eu começo falando de mim, afinal falo muito pouco de mim, como você - se acompanha este troço, e eu espero que faça - sabe. É muito provável, inclusive, que você nem saiba direito quem eu sou. O que, se for o caso, significa que você está bem perdido ou tem algum prazer estranho de ler o que pessoas aleatórias escrevem internet afora.
Em todo caso, dialoguemos em absoluta sinceridade na tentativa de esclarecer isto hoje. Não que você irá responder qualquer pergunta que eu venha a lhe fazer sobre quais coisas lhe geram prazer, mas, parafraseando Stephen Fry em More Fool Me, e em inglês, você que se dê ao trabalho de traduzir, caso seja necessário, isto é: “Books, too, can take the form of a dialogue. I flatter myself, vainly perhaps, that I have been having a dialogue with you. You might think this madness. I am delivering a monologue and you are either paying attention or wearily zipping through the paragraphs until you reach the end. But truly I do hear what I consider to be the voice of the reader, your voice. Yes, yours. Hundreds of thousands of you”. Ou três pessoas no meu caso. E olhe lá.
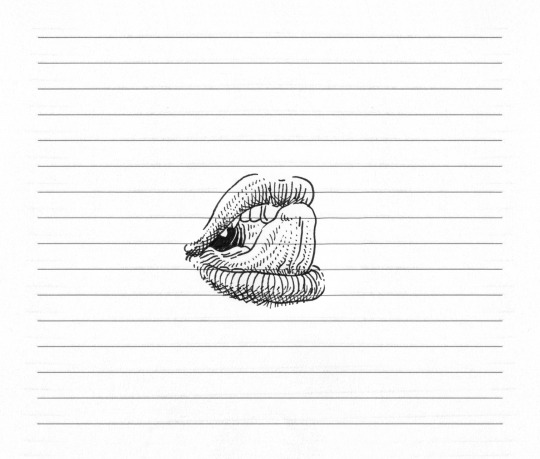
Falando nisso, tempos e tempos atrás, tentando nos conhecer melhor, eu e uma amiga - aquela mesma já tão citada aqui - compartilhávamos auto-definições de quem éramos e do que outras pessoas achavam que éramos, da persona que é criada e aquela que se cria. Calhou que esse tema - como muitas outras coisas - era algo relevante para ambos e acabou por gerar várias conversas. A persona dela, no caso, era múltipla, variava à extremos opostos dependendo de quem era o outrem que a observava. Ou ao menos foi o que sorvi de uma das conversas, posso estar eu mesmo criando uma imagem errônea nesse momento. No meu caso havia apenas uma persona, com suas pequenas variações é claro, mas sempre a mesma persona, estagnada sobre certos princípios.
Parte dessa persona eu criei voluntariamente, me agarrando justamente à alguns desses princípios, que eventualmente tornam-se características externalizadas, como eu não gostar de festas, muvucas ou gente num geral, por exemplo. Uma vesga verdade, ainda que eu e as outras pessoas que observam a minha persona a coloque como uma verdade absoluta. O mesmo se aplica ao fato de eu ser imprevisível, algo, devo admitir, muito fácil de ser construído, uma vez que eu posso ser imprevisível ou porque você não me conhece direito ou porque algo que eu fiz contradiz algum desses princípios característicos da minha persona ou porque eu simplesmente resolvi que queria ir contra as suas expectativas, posto em vista que não gosto de concordar com as pessoas. Outra verdade, aliás.
Em consequência dessa imagem da qual tenho consciência estar criando de mim mesmo, acabo preso a uma outra - um pouco menos detalhada e por vezes equivocada - imagem que geram de mim, como aquelas que geram sobre uma amiga. Algo que chega a me deixar angustiado, uma vez que essa imagem sugestiona certas expectativas, boas ou ruins, que não refletem o real eu, me limitando a algo que não sou, e eu sou absolutamente desentusiasta de qualquer coisa que me prenda, limite ou controle em qualquer grau, fora que, como sugeri, ser previsível é algo do qual tento me esquivar.
Re-lia minha autobiografia nesse mesmo “troço” - basicamente uma grande listagem de coisas que gosto ou faço - quando me deparei com a seguinte indagação: “aliás, é isso que define uma pessoa? Seus interesses fílmicos, literários e musicais?”. Creio que não, ainda que em certo grau alguns de seus interesses fílmicos, literários e musicais possam vir a refletir intrinsecamente a definição de sua persona.
Essa, aliás, era uma outra constante das conversas com uma amiga na época em que queiramos nos conhecer melhor. Tando a pura apresentação de interesses, como daqueles que definiam nossas personalidades. Se bem me lembro, creio que tenha sido eu a indagá-la primeiramente sobre uma música que a definisse, apenas para dá-la muito motivo de procrastinação para gastar absurdos de tempo procurando por uma. Eventualmente eu lhe apresentei uma música que afirmava me definir, apenas para ela me dizer: “olha eleeee descobrindo músicas que o definem”.
A música era, ou é no caso, Waterloo Sunset, de 1967 do The Kinks. Quisera eu gostar mais dessa música quanto gosto. Mas o propósito dela não é ser ou não apreciada por mim, seu propósito é me definir, e se você conhece um pouco melhor minha persona certamente identificará os elementos que a definem ao escutar a música. Como fez uma amiga, que disse: “a música é mesmo muito a sua cara”.

Nessa nota, permita-me, caro leitor, falar de outras obras que em muito são a definição - ou manifestações narrativas de uma auto-definição - do que convencionou-se a chamar de Victor Zanini. Antes de colocar o espelho a minha frente, porém, permita-me colocar uma tela e pintar, tal qual faziam os que acreditavam no idealismo clássico, o que tomo como um “escopo” - essa definitivamente não é a palavra - da imagem desse tal Victor Zanini. Por isso mesmo, este que é o meu filme favorito, Princesa Mononoke (1997), diferente das demais obras que citarei, não ganhara tal privilegiada posição em meu - por alguns dito existente - coração em virtude de uma identificação pessoal, mas sim pela pura e simplesmente qualidade da obra, e conseguinte apreciação que tenho pela mesma.
Eu simplesmente amo esse filme, como já mencionei aqui no “troço” algumas vezes. Mas neste momento a discussão cabe a seu protagonista, Ashitaka, a quem tomo como “role model”, como colocara uma amiga quando listávamos um ao outro nossas “coisas favoritas”. Ashitaka é justamente esse “escopo” ainda que soe igualmente pretensioso e raso colocar dessa maneira. Em todo caso, enquanto meu pai tem - ou ao menos tinha em sua infância - o Super-Homem como seu herói, eu tenho Ashitaka como o meu.

Falando em pais e heróis, e fazendo uma ponte bem mequetrefe para a mudança de assuntos, acho que cabe agora divagar sobre Call Me by Your Name, cujo pai, Mr. Perlman, interpretado maravilhosamente por Michael Stuhlbarg no cinema, admitidamente é o herói que muitos queriam ter como pai ou vice-versa. Pra minha felicidade, creio compartilhar algumas das características de Mr. Perlman, ainda que Oliver e Elio me vistam drasticamente melhor.
Ambos o filme de Luca Guadagnino, que já assisti algumas várias vezes, e o livro de André Aciman, que me foi narrado por Armie Hammer, cada qual com suas particularidades, em muito são representativos desse meu vestuário.
Sim, é fato que, apesar de nunca ter pisado na Itália, invejo a locação, ou me identifico com os personagens frequentemente andando de bicicleta e vivendo “la dolce vita”, vendo o tempo passar tão naturalmente quanto consomem arte no café da manhã, mas há na obra algo mais intrincado - no âmago dos personagens talvez - em que vejo-me refletido, experiências, comportamentos, motivações. É justamente por isso, que diferente de Mononoke, Call Me by Your Name não me é de importância de um ponto de vista qualitativo, mas simplesmente de um individual, para não dizer pessoal.
Ele não soa, porém, tão pessoal quanto outra obra sobre “amadurecimento” - algo que mesmo com a idade que tenho ainda estou experienciando aos montes e uma amiga pode muito bem confirmar isso - o absolutamente infinito The Perks of Being a Wallflower, mais um “filminho indie com fãs ávidos”, o qual infelizmente eu não tive a oportunidade de ler ou ouvir a versão literária, também criada por Stephen Chbosky. Mas creio, uma vez que a obra me parece tão mais intangível quanto o próprio conceito de obra é, que me agarrar somente ao filme é por fim a melhor das escolhas, dado que o próprio Chbosky parece até certo grau fazer o mesmo.
Inquestionavelmente aspectos meus pairam entre os três protagonistas, Charlie, Sam e Patrick, mas é Charlie que reflete-me mais fidedignamente. Não irei me dar ao trabalho de listar as inúmeras semelhanças aqui, tampouco as inevitáveis diferenças, afinal ele é um reflexo - ao menos uma imagem invertida - de mim, e não eu. Mas se você não estranhar letras ao contrário ainda é capaz de ler o que está escrito.
Escrever, contudo, é algo sobre o qual posso lhe dar o trabalho de ler, meu caro leitor. Uma vez que essa atividade, seja pelas cartas escritas por Charlie, seja por sua aparente aptidão por tornar-se um escritor, tem demasiada relevância na narrativa de Perks e, não menos, tem também na minha, caso contrário você nem sequer estaria lendo isto. É verdade que comecei a escrever - e principalmente neste formato “memoir” - depois de ter assistido ao filme, que influenciaria minha vida em outros inúmeros aspectos.
Todas essas obras, em maior ou menor grau, representaram pontos de virada na minha vida, seja tocando em profundo o físico ou simplesmente gerando-me novas perspectivas, na maioria das vezes, sobre a minha própria pessoa.
Em algum grau The Perks of Being a Wallflower representa meu lado inconsciente, meu lado inocente, as vivências sobre as quais não tive, nem tenho controle. Call Me by Your Name, por outro lado, representa tudo aquilo que partiu de mim em primeira escala, das experiências sobre as quais agi conscientemente, ainda que por vezes instintivamente. Em algum grau o primeiro é a emoção, o segundo a razão; um é cheio de inseguranças, o outro é cheio de si.
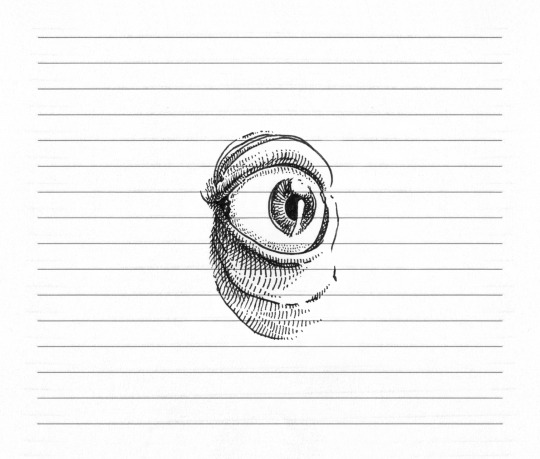
Sendo bem honesto, entretanto, é com pesar e jocosidade que confesso que a obra - se é que assim é válido alcunhá-la - que melhor captura quem fui e sou, carece em completo dos atributos poéticos, metafóricos e análogos, de ambas as narrativas citadas anteriormente. Ao contrário, se resume a apática - e porque não depressiva - versão surrealmente britânica da minha realidade.
Da linguagem narrativa ao personagem principal, a melhor manifestação de que fui, quem achava que era, quem queria ser, e quem sou, está exposta na vida - narrada em três autobiografias - de Stephen Fry. Em principal a primeira, Moab Is My Washpot (1997), que cobre - por coincidência ou não - os primeiros vinte anos de Fry.
É óbvio que eu não sou Stephen Fry e que Stephen Fry não sou eu. É óbvio que somos diferentes da mais fedorenta base do pé ao mais sensato ou insano topo da cabeça. Mas eu, que declaradamente - inclusive aqui neste mesmo texto - não gosto de concordar com as pessoas, não me recordo de ter discordado uma única vez do narrava Fry aos meus ouvidos. Ademais, se você entende Stephen Fry, posso declarar com convicção que você, caro leitor, já entendeu quem sou eu.
A esse ponto creio que já poderia deixá-lo, caro leitor. Esperando que você tenha ao menos se entretido com todas as “verdades” que “lhe contei” - uma vez que de fato não lhe contei nada e que tudo pode ser uma grande mentira - e que eu, apesar de estar cada vez mais expondo minha auto-construída imagem nesse buraco negro que é a internet, não cometi nenhum erro em fazer tal, e que as três pessoas que leram tal exposição não se fazem ameaças, mas sobre isso, todavia, terminarei mais uma vez parafraseando Stephen Fry: “part of me truly believes that honesty is, as school teachers used to say, ‘the best policy’ in every way. It saves being ‘found out’, but it also – if this doesn’t sound too self-regarding and sanctimonious – helps those who are in less of a position to feel comfortable about who they are or the situation they find themselves in. Without diverting ourselves about the nature of altruism and whether it really exists, I know that I write more or less the books that I wish I could have read when I was – oh, between fourteen and thirty I suppose. Memoir, the act of literary remembering, for me seems to take the form of a kind of dialogue with my former self. What are you doing? Why are you behaving like that? Who do you think you are fooling? Stop it! Don’t do that! Look out!”
E até algum dia, caro leitor.
0 notes